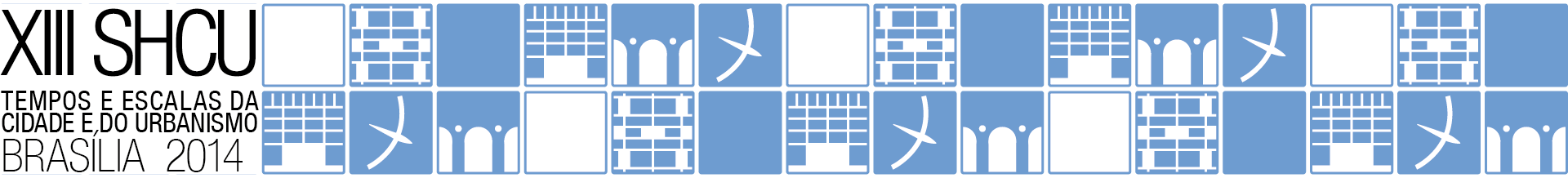Conceitos e histórias do urbanismo
Resumo
Em 2014, o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (SHCU) alcança sua décima terceira edição. Nas duas décadas que se passaram desde o encontro inaugural, realizado em 1990, acumulou-se um diversificado e francamente acessível corpo de estudos, em grande medida dedicado ao inventário, descrição e análise da evolução histórica do urbanismo como conhecimento, profissão e espaço institucional. Certamente ainda há muito a explorar nesta direção. Contudo, ao percorrermos tal corpus, constata-se a multiplicação de estudos empíricos pouco ou nada preocupados com um debate teórico-conceitual de maior profundidade acerca do significado até mesmo de termos centrais para o desenvolvimento do conhecimento na área. Este movimento reflete o avanço de um relativismo de corte filosófico pós-moderno e aponta para a retomada, com força, de uma antiga pergunta: para que serve a pesquisa histórica? Ou, mais especificamente: para que serve a pesquisa histórica do urbanismo?
Palavras-chave: urbanismo; história do urbanismo; história conceitual
Abstract
The Seminar on the History of the City and of Urban Planning (SHCU) reaches in 2014 its 13rd edition. During the two decades after the first seminar, in 1990, a large body of very diverse and accessible studies, most dedicated to the survey, description, and analysis of the historical evolution of urban planning as knowledge, profession and institutional space was accumulated. Although many subjects can still be explored on these subjects, many recent studies are empirical and do not take into account the deeper and essential theoretical-conceptual debate on the meaning and on central issues needed for the development of this field. This movement reflects the advance of the relativist trend of the post-modern philosophy, and indicates that an old question needs to be revisited in depth: what is the purpose of historical research or – more specifically – what is the purpose of historical research in urban planning?
Keywords: urban planning; history of urban planning; conceptual history
Introdução
Em 2014, o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (SHCU) alcança sua décima terceira edição. Nas duas décadas que se passaram desde o encontro inaugural, realizado em 1990, acumulou-se um diversificado e francamente acessível1 corpo de estudos, em grande medida dedicado ao inventário, descrição e análise da evolução histórica do urbanismo como conhecimento, profissão e espaço institucional. Certamente ainda há muito a explorar nesta direção. Contudo, ao percorrermos tal corpus, constata-se a multiplicação de estudos empíricos pouco ou nada preocupados com um debate teórico-conceitual de maior profundidade acerca do significado até mesmo de termos centrais para o desenvolvimento do conhecimento na área. Este movimento reflete o avanço de um relativismo de corte filosófico pós-moderno e aponta para a retomada, com força, de uma antiga pergunta: para que serve a pesquisa histórica? Ou, mais especificamente: para que serve a pesquisa histórica do urbanismo?
Não é objetivo deste trabalho fazer um balanço crítico dos estudos sobre o urbanismo reunidos nos anais do SHCU2. Apresenta-se aqui o escopo de uma pesquisa apenas iniciada com o propósito de expor, sucintamente, seus fundamentos.
Palavras, conceitos e histórias do urbanismo
É bem conhecida a importância das contribuições de Reinhart Koselleck para a teoria da história, de modo especial por sua abordagem relativa à história conceitual. Apenas para argumentar, resumirei a seguir, e de maneira bastante ligeira, alguns aspectos dessa abordagem, que julgo particularmente relevantes na perspectiva da historiografia do urbanismo. Farei isso, inicialmente, com base em um de seus primeiros trabalhos publicados no Brasil, “História dos conceitos: problemas teóricos e práticos” (Koselleck, 1992), conferência transcrita, traduzida e editada por Manoel Luiz Salgado Guimarães.
A história dos conceitos não se interessa por qualquer palavra ou conceito. Aliás, antes de tudo, ela diferencia a palavra do conceito. De fato, o que ela procura é o produto de um processo de teorização, pois se coloca como problemática indagar como e a partir de quando um determinado conceito resultou de tal processo (Koselleck, 1992: 136).
A história conceitual não se limita ao fenômeno linguístico. Todo conceito é, ao mesmo tempo, fato e indicador, isto é, “fenômeno linguístico e indicativo de algo que se situa para além da língua”. Um conceito sempre se articula a um texto maior e “a um contexto ainda mais ampliado, para além do próprio texto escrito ou falado” (Koselleck, 1992: 137).
Ao longo do tempo, a palavra – a tradução do conceito – pode permanecer a mesma, mas “o conteúdo por ela designado altera-se substancialmente”. De certo ponto de vista, segundo Koselleck, “todo conceito, enquanto tal, só pode ser pensado e falado/expressado uma única vez”, porque sua “formulação teórica/abstrata relaciona- se a uma situação concreta que é única”. Ou seja, “a diacronia está contida na sincronia”; e “esta força diacrônica deve ser passível de ser mensurada de alguma forma, quando se pretende trabalhar empiricamente” (Koselleck, 1992: 138-9).
1 Cf. http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/shcu
2 Ressalte-se que o problema aqui apontado também aparece em trabalhos que não tratam diretamente da história do urbanismo.
A escolha e o manuseio das fontes revelam-se, portanto, fundamentais (Koselleck, 1992: 141). Porque “a semântica comporta sempre, em si, estruturas de repetição; mas a semântica mesma, de acordo com o gênero e o tipo de texto, possibilitará, impedirá ou mesmo proibirá diferentes formas de repetição” (Koselleck, 1992: 144).
Por fim, uma história dos conceitos somente pode ser pensada “sob a premissa teórica da separação analítica entre cada afirmação linguística presente nas fontes textuais e a história concreta”, a qual deve ser “obrigatoriamente realizada de forma rigorosa do ponto de vista teórico”; e “só então posso perguntar às fontes textuais o que elas indicam em relação à história concreta e que qualidades possuiriam para co- produzirem história enquanto texto” (Koselleck, 1992: 145).
Entretanto, é importante não esquecer que os conceitos “existem” nas fontes históricas examinadas pelo pesquisador e na própria historiografia que constrói:
Quando o historiador mergulha no passado, ultrapassando suas próprias vivências e recordações, conduzido por perguntas, mas também por desejos e inquietudes, ele se confronta primeiramente com vestígios que se conservaram até hoje, e que em maior ou menor número chegaram até nós. Ao transformar esses vestígios em fontes que dão testemunho da história que deseja apreender, o historiador sempre se movimenta em dois planos. Ou ele analisa fatos que já foram anteriormente articulados na linguagem ou então, com a ajuda de hipóteses e métodos, reconstrói fatos que ainda não chegaram a ser articulados, mas que ele revela a partir desses vestígios. No primeiro caso, os conceitos tradicionais da linguagem das fontes servem-lhe de acesso heurístico para compreender a realidade passada. No segundo, o historiador serve-se de conceitos formados e definidos posteriormente, isto é, de categorias científicas que são empregadas sem que sua existência nas fontes possa ser provada. (Koselleck, 2006: 305).
Assim, justamente porque sua prática movimenta-se entre dois planos ou níveis conceituais, o historiador necessariamente deve diferenciar as palavras e conceitos encontrados nas suas fontes de suas próprias palavras e conceitos.
A lição é aparentemente banal; porém, sublinhe-se, apenas aparentemente. A pesquisa historiográfica do urbanismo testemunha essa última constatação. Por exemplo, frequentemente encontramos estudos que tratam dos mais diversos tipos de planos, denominados de conjunto, de melhoramentos, de urbanismo, de desenvolvimento urbano, etc., que os reduzem, todos, a planos diretores. Isto acontece no mundo da pesquisa e também nas falas e textos dos praticantes e operadores do urbanismo.
Publicado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) em 2010, o volume dedicado à arquitetura e urbanismo da coleção Trajetória e estado da arte da formação em engenharia, arquitetura e agronomia dá um notável testemunho das intricadas relações existentes entre os níveis conceituais definidos por Koselleck. Uma sucinta nota inserida naquele trabalho informa que:
Por uma questão de consolidação de uma identidade profissional e uniformização de texto, adotaremos sempre a nomenclatura arquitetura e urbanismo independentemente do período histórico estudado. (CREA, 2010: 31)
Não fica claro para o leitor quem tomou tal decisão, se foram os editores ou os organizadores do livro, nesse último caso, docentes e pesquisadores universitários. De qualquer maneira, como consequência, produziu-se uma narrativa segundo a qual, por exemplo, o ensino de “arquitetura e urbanismo” é anterior ao aparecimento da palavra urbanismo3. Emprega-se, portanto, embora de maneira implícita, um conceito cujo significado (segundo o livro publicado pelo CREA) resultaria de um processo de teorização iniciado por Vitruvius aproximadamente no ano 40 d.C., época em que elaborou seu célebre tratado De Architectura, “a fonte inspiradora de todos os escritos posteriores sobre arquitetura e urbanismo.” (CREA, 2010: 20)
Eis aí um movimento onde a história, a palavra e o conceito são operados também como forma de intervir na realidade presente, no caso, de maneira explícita, por “uma questão de consolidação de uma identidade profissional”. (CREA, 2010: 31)
E temos assim uma evidência empírica de um problema absolutamente desafiador, não somente para a história conceitual no terreno da arquitetura e/ou urbanismo: como, quando e com que propósitos o grupo profissional dos arquitetos formulou o conceito de profissional arquiteto-e-urbanista?
Portanto, os editores e organizadores do livro do CREA, os numerosos pesquisadores cujos trabalhos estão cuidadosamente reunidos nos anais do SHCU, e eu mesmo, no presente texto, todos devemos considerar com rigor os desafios epistêmicos, teóricos, conceituais e metodológicos inerentes ao nosso movimento entre os diferentes planos conceituais descritos por Koselleck.
Outro aspecto deve ser aqui considerado, mesmo que brevemente. Como domínio e experiência do conhecimento, a história não pode ser confundida com a arquitetura-e- urbanismo. Um número importante de trabalhos reunidos nos anais do SHCU foi produzido por diplomados em arquitetura-e-urbanismo que não praticam (ou jamais praticaram) tal ofício, pelo menos no que diz respeito àquilo que normalmente se atribui como sendo de sua específica competência: a elaboração de planos e projetos de natureza arquitetônico-urbanística. Quero dizer: raramente o arquiteto-e-urbanista, cuja atividade está concentrada na prática de planos e projetos, reflete sobre suas próprias práticas. Desse ponto de vista, não se pode falar do SHCU como um espaço de reflexividade, no sentido dado a esse termo por Pierre Boudieu (2001).
Em síntese, grande parte dos trabalhos reunidos nos anais do SHCU resulta de uma pesquisa historiográfica como qualquer outra.
Segundo revelaram os dados de levantamento realizado em 20124 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), um pequeno número de diplomados em arquitetura e urbanismo trabalha com pesquisa. Entre os 220.334 profissionais consultados pelo CAU naquela ocasição, apenas 6.617 (3,05%) declararam ter atuado, nos últimos dois anos, em atividades de ensino, sendo que, provavelmente, apenas uma parte deles de fato trabalhou com pesquisa. Como era de se esperar, quase 90% dos profissionais consultados declararam ter trabalhado, nos últimos dois anos, em atividades direta ou indiretamente relacionadas à elaboração e gestão de planos e projetos, como “arquitetura e urbanismo – concepção” (26,3%); “arquitetura e urbanismo – execução” (18,65%); “arquitetura de interiores” (16,74%); “arquitetura paisagista” (5,29%) e “planejamento urbano e regional” (4,70%).
3 E o livro vai muito além: por exemplo, mesmo nomes de instituições até hoje formalmente denominadas “de arquitetura” ganharam ali uma nova denominação, tornando-se “de arquitetura e urbanismo”.
4 [http://www.caubr.gov.br/censo/resource/site/pdf/nacional/Censo-CAU-Brasil.pdf]{.ul}
As opções de escolha oferecidas aos profissionais consultados mereceriam, em si, uma análise como expressão empírica dos distintos níveis conceituais descritos por Koselleck. Note-se que a opção “urbanismo” não foi oferecida aos consultados. Aparece aí outro problema conceitual desafiador: urbanismo e planejamento urbano seriam termos intercambiáveis? Ou remeteriam a práticas e conhecimentos distintos?
Ressalte-se que o debate a propósito do significado de termos como urbanismo e planejamento urbano não ocorre somente no Brasil. Por exemplo, especificamente com relação a esse tema, Jean-Louis Cohen (2012), chamou a atenção, em artigo recente, para os problemas que implica para o mundo da pesquisa.
De outra parte, mas ainda com relação a este assunto, é recorrente o apelo à história como suporte para o posicionamento teórico-conceitual em face do problema. Este procedimento – a evocação de um contexto – parece reforçar a hipótese de Jean- Claude Passeron (1982), segundo a qual, nas ciências sociais, todos os conceitos são analógicos, porque, desde que inseridos nos contextos em que são pronunciados, a rigor nunca se referem exatamente à mesma coisa.
Por exemplo, para explicar o que entendem por urbanistica (palavra traduzida, no Brasil, por urbanismo), Bernardo Secci (2000) e Donatella Calabi (2000) partem da compreensão do processo histórico de teorização da prática do urbanismo na Itália. E assim procedem tantos outros, em outros lugares, como o geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2002) que, no Brasil, busca na história as bases de uma definição teórico- conceitual na qual a palavra urbanismo aparece associada a um saber fundamentado na arquitetura; e o termo planejamento urbano a um conhecimento fundamentado nas ciências sociais.
Enfim, por este ângulo, abordar o processo teórico que resulta na conceptualização do urbanismo, quase sempre significa abordar também diferentes histórias da história do urbanismo.
As observações feitas até aqui concernem, basicamente, as palavras urbanismo e planejamento. Mas sabemos que o problema, ontem e hoje, envolve muitos outros termos. Apenas a título de exemplo abordarei rapidamente o termo planejamento territorial.
Já nos anos 1960, praticantes e estudiosos do urbanismo consideravam este último termo um tanto redutor do amplo leque de ações relacionadas ao campo. A noção de planejamento territorial emerge nesse quadro histórico a partir da teorização de um conhecimento e de práticas que queriam abarcar a integralidade do espaço físico, fosse ele urbano, rural, regional ou nacional. Um ótimo exemplo dessa abordagem é a Tese de Cátedra de Lauro Bastos Birkholz, formulada no final dos anos 1960, onde o ensino de urbanismo transforma-se em ensino do planejamento territorial. (Birkholz, 1967)
Em outro momento histórico, na primeira década do século 21, o termo reaparece com alguma força. Porém, agora associado a outro processo de teorização, relacionado sobretudo à promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, documento legal no qual se estabelece (artigo 39, §2º) que o “plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo”.
Na medida em que grande parte dos municípios brasileiros dispõe de extensas áreas não urbanas, tal definição gerou uma controvérsia ao mesmo tempo semântica e corporativa.
A elaboração de planos diretores, historicamente, sempre foi associada ao urbanismo e/ou ao planejamento urbano; aliás, os arquitetos-e-urbanistas até hoje reivindicam uma competência preponderante na elaboração daquele documento. Mas tal relação pertence a um tempo em que os planos diretores tratavam basicamente de áreas urbanas. Como já foi observado, atualmente, segundo a lei, esses planos devem necessariamente “englobar” áreas rurais, agrícolas ou pastoris, florestas, dunas, vales, nascentes, etc. Geógrafos, sociólogos, antropólogos, engenheiros, economistas, advogados, biólogos, agrônomos e outros profissionais questionam a competência do arquiteto-e-urbanista para tanto. Ao que os arquitetos-e-urbanistas frequentemente respondem com um argumento sugerido por Alfred Agache nos anos 1930, em seu plano para o Rio de Janeiro: certo, o urbanismo é uma atividade interdisciplinar; mas cabe ao arquiteto, por sua capacidade de síntese, coordenar e dirigir a elaboração do plano; ele seria o profissional mais capacitado para exercer esse papel, similar ao de um “chefe de orquestra.” (Agache, 1930: 5-9)
Ao entrecruzar conceitos e palavras referidas a processos de teorização absolutamente distintos, esse debate muitas vezes torna-se, simplesmente, incompreensível.
Um exemplo: conceito e história do urbanismo segundo Jorge Wilheim
Disse antes que são raros os praticantes do urbanismo que elaboram reflexões sobre suas próprias experiências, ou sobre a experiência do urbanismo de um modo geral. Entre estas figuras raras encontra-se Jorge Wilheim (1928-1914).
Em seu conhecido livro O substantivo e o adjetivo, publicado em 1976, um dos capítulos intitula-se justamente “Algumas precisões sobre urbanismo e quem o pratica”. Trata-se de um texto pleno de marcas do tempo e que sintetiza belamente um processo de teorização conceitual em curso de elaboração. É, sem dúvida, um desses trabalhos que poderia ser incluído numa história das histórias do urbanismo.
Wilheim define, inicialmente, o planejamento sem adjetivá-lo; e, para tanto, imediatamente recorre à história. Comentarei mais adiante a relação de seu posicionamento com acontecimentos marcantes daquele seu tempo presente.
Segundo Wilheim, “o planejamento nasceu, como teoria e como prática profissional, do desejo de controlar processos de transformação social e da necessidade de otimizar recursos escassos pelo viés do aumento da eficiência”. Sua origem histórica se situaria na Europa entre-guerras (1919-1939) ou nos tempos da crise econômica de 1930. (Wilheim 1976: 39-40)
Forjou-se então, segundo Wilheim, um conceito de planejamento, baseado em sua suposta neutralidade, “que ainda perdura”:
Para melhor compreender uma realidade, deveria o planejador ater-se aos fatos, constatar situações, quantificá-las se possível, analisá-las e propor medidas de pura decorrência; sem tentar envolver-se na valorização dessas situações nem tentar propor normas que implicassem uma posição ética ou política do planejador. (Wilheim 1976: 40)
Wilheim associa a este planejador a figura do tecnocrata:
Para efeito de argumentação, definimos o tecnocrata como sendo este técnico guindado a uma posição executiva e segundo a qual o planejamento deva ser uma práxis baseada em “fatos” e não em valores. Sua preocupação em manter as mãos limpas,
em lidar com dados objetivos, em evitar motivações “inexatas” (sociológicas e psicológicas), encerra-o numa torre de marfim. Alheia-se daquela realidade dinâmica que tanto desejava analisar e diagnosticar. (Wilheim 1976: 41-42)
Uma característica importante deste planejamento seria seu caráter “controlador”:
O planejador tecnocrata é bem representativo do esforço de controlar a realidade (e os cidadãos); o controle é aqui entendido como uma tentativa de impor uma teoria sobre a realidade; mesmo ao preço da diminuição da liberdade do cidadão para quem, supostamente, ele está planejando. A implantação de um planejamento controlador, imposto por tecnocratas, encerra de fato tal risco. (Wilheim 1976: 42)
Portanto, o planejamento tout court ganha um primeiro adjetivo: Wilheim refere-se agora ao planejamento controlador. Mas logo a seguir considera a existência de “diversos estilos de planejamento controlador” e, apoiando-se em John Friedmann, define um deles, o planejamento alocativo:
Tal tipo de planejamento parte de uma constatação entrópica do mundo; ele está em equilíbrio, todos os elementos estão presentes, o jogo do planejamento consiste em mudar a posição relativa dos elementos para que nada desmorone, pois, tudo precisa continuar em equilíbrio. (Wilheim 1976: 42)
Com base nas noções de equilíbrio e sistema, este planejamento, sempre segundo Wilheim, busca algo “que não existe”, isto é, “a harmonia perfeita”:
A noção de equilíbrio é típica do planejamento alocativo; o melhor exemplo é o orçamento plurianual. Peça necessária de qualquer administração pública, baseia-se na alocação de recursos existentes e previamente previstos. Não propõe alteração alguma da regra do jogo; evita imiscuir-se, permanecendo neutro. (Wilheim 1976: 42)
Mas trata-se de uma “neutralidade dúbia”. Ao supor que “a tarefa de transformar é dos políticos, não dos técnicos chamados planejadores”, o planejamento alocativo de fato “confirma o status quo do poder executivo”. De outra parte, pautado pela noção de equilíbrio do sistema, emprega modelos matemáticos com o objetivo de “projetar situações” que só podem ser imaginadas “excluindo-se o advento de qualquer evento novo” (Wilheim 1976: 43), embora a realidade seja feita de conflitos e incertezas. A produção desses “modelos e insumos informativos” às vezes é tomada como “produto final” do planejamento:
O fascínio do número e do jogo tem, no entanto, feito com que tais modelos e projeções sejam frequentemente aceitos como o objetivo do planejamento, conferindo à tarefa – apesar de não concluída – um halo de cientificidade pretensamente suficiente. (Wilheim 1976: 43)
A esta visão de neutralidade científica opõe-se “uma posição inversa, igualmente radical e falsa”:
O apego aos objetivos substantivos do planejamento não é sinônimo de uma atuação político-partidária imediatista por
parte do planejador. Este, como qualquer cidadão, poderá ser militante de algum partido político; nesta condição objetivará implantar táticas de conquista do governos, pois esta é a finalidade de qualquer partido político; através desta tomada de poder poderá ser implantado o ideário do seu partido que sempre é identificado, por seus membros, como o ideário que convém à nação.
Mas, na prática de planejamento, o objetivo profissional não é a tomada do poder por parte de um partido. A participação social da tarefa profissional não é necessariamente político-partidária. A transformação da realidade, no sentido do seu desenvolvimento, implica valores, normas, conceitos e ideário. Mas o objetivo da tarefa profissional limita-se a contribuir à identificação, ao estímulo e à libertação dos elementos criadores que, por sua vez, em relativa liberdade, encontrarão o adequado caminho para a transformação. No fundo, é uma atitude de respeito para com a realidade e a sociedade. E não uma atitude de controle sob a máscara fria e neutra indiferença; nem de controle pela imposição de cima para baixo de um ideário político-partidário. (Wilheim 1976: 44)
A visão de neutralidade presente no planejamento teria por base a concepção de ciência formulada por Max Weber, à qual Wilheim contrapõe a sociologia do planejamento de Karl Mannheim:
Não há como evitar “sujar-se” as mãos quando se põe a mão na massa; isto é, por a mão na massa significa aceitar o vínculo existente entre política e planejamento.
Não somos nem os primeiros nem os últimos a dizê-lo. Karl Mannheim é quem, com maior clareza e profundidade, lançou as bases de uma sociologia do planejamento. Em seu livro Ideologia e utopia descreve duas formas de pensamento: o pensamento ideológico, preocupado com a justificativa e explicação de uma situação existente; e o pensamento utópico, preocupado em transformar a situação e voltado para uma situação futura e socialmente desejável. Considerando o planejamento como a forma moderna de relação pensar-agir, superando as eras da descoberta casual e da invenção, Mannheim propõe uma práxis voltada para a transformação da sociedade. O planejamento deveria utilizar-se de um pensamento utópico que lhe permitisse atribuir valores e normas à sua conceituação. Contrariava, destarte, a posição weberiana que desejava o exame dos fatos independente de seu valor. (Wilheim 1976: 45)
Em síntese, com estas citações, quero chamar a atenção para a centralidade assumida, na abertura do texto de Wilheim, pelo debate acerca da natureza do planejamento como conhecimento. Para ele, definitivamente, antes de mais nada o planejador deve admitir a natureza política do planejamento. Daí resulta sua filiação ao que denomina “urbanismo democrático”. E é interessantíssimo observar que, somente a partir desse momento, seu texto passa a empregar a palavra urbanismo.
Não há espaço para abordar, neste artigo, todos os aspectos presentes no texto de Wilheim, sobretudo porque a abordagem metodológica que pratico demanda longas transcrições. Mas o que pretendia ressaltar já foi evidenciado: as potencialidades da história conceitual no tratamento das coisas do urbanismo e a recorrente evocação da história na sua conceptualização. Aliás, em certa passagem, Wilheim parece dialogar diretamente com a história conceitual de Reinhart Kosalleck, embora, evidentemente, em 1976 isso fosse uma impossibilidade:
Cabe, ainda, neste capítulo, uma precisão de ordem semântica:
urbanismo ou planejamento urbano? (Wilheim 1976: 51)
A resposta de Wilheim a sua própria pergunta é um notável testemunho da importância do debate teórico e da démarche propostos por Koselleck. Mais uma vez Wilheim recorre à história, mostrando como a mesma palavra (seja ela urbanismo ou planejamento) pode, ao longo do tempo, traduzir conceitos diferentes. Em certos casos, explica Wilheim, “com a substituição de vocábulos, também se escamoteia, involuntariamente, a existência de diversos níveis de atuação na prática profissional”:
O nível de planejamento e a elaboração de planos referem-se sempre a generalidades: estratégias, políticas, intervenções indiretas, legislação. Se a transformação da realidade urbana tiver que ser efetivada, deve-se passar a outro nível de elaboração: o do projeto. E se a transformação for de natureza física (uma obra a construir, uma via, um espaço, uma área verde, etc.), o projeto será um projeto detalhado. (Wilheim 1976: 54)
E quando mais nos aproximamos desse último “nível de atuação”, mais protagonismo ganharia o arquiteto:
Este nível mais detalhado de atuação ainda é “urbanismo”, mas já deixou de ser plano para ser projeto. A frequência com que se desce ao nível do projeto de obras físicas indica a posição preponderante do arquiteto nas equipes pluridisciplinares. A semelhança do mecanismo mental com que se abordam os problemas de um projeto e os de um plano, assim como as características humanistas, globalizantes e formais de sua formação fizeram do arquiteto os primeiros batalhadores pela renovação urbana e geralmente os inovadores dos conceitos e metodologias urbanísticos. Sua visão espacial confere-lhe um papel sui generis nas equipes pluridisciplinares. (Wilheim 1976: 55)
Porém, quando se trata da cidade, já não há uma predominância de corte disciplinar:
O desempenho do urbanismo, especialmente quando a escala do problema é toda uma cidade, no entanto, é sempre tarefa de equipes pruridisciplinares. Elas procuram elaborar trabalhos integrados; esta integração depende, contudo, da maior ou menor clareza dos conceitos e metodologias, assim como de uma desejável posição filosófica ou conceitual homogênea. As ocasionais dificuldades de integração dessas equipes talvez sejam decorrentes menos da complexidade do tema do que da formação universitária em que as diversas disciplinas ainda são,
na maior parte dos casos, separadas em escolas autônomas. (Wilheim 1976: 55)
Em seus trabalhos, Koselleck insiste em dizer que um conceito não pode ser compreendido apenas como fenômeno linguístico: é preciso considerar, sempre, também o que está “fora” do texto e do contexto semântico abordados.
Apenas para citar um exemplo, o fato de sabermos que Wilheim ocupou o posto de Secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo no período 1975- 1979, sem dúvida nos ajuda a compreender a abordagem conceitual e histórica do planejamento contidas em O substantivo e o adjetivo. Por último, não seria indevido considerar ainda que, por aqueles anos, para muitos analistas, o posto mais estratégico e cobiçado no governo federal era o de Ministro do Planejamento (Mantega, 1997: 7).
Analisou-se aqui apenas parte de um texto de Jorge Wilheim. Mas, com base nesse exemplo, penso ter demonstrado que uma releitura de sua produção e de trabalhos de outros personagens, sob o ângulo da história conceitual, muito poderá nos ajudar a melhor compreender os caminhos conceituais do urbanismo – e mais além. Nessa perspectiva cabe também o estudo das expressões relativistas atualmente dominantes nesse campo de conhecimento, tão marcado pela fragmentação epistêmica e cuja inteligibilidade sem dúvida demanda a contribuição do rigor historiográfico.
AGACHE, Alfred. Cidade do Rio de Janeiro: extensão, remodelação, embelezamento. Paris: Foyer Brésilien, 1930.
BIRKHOLZ, Lauro Bastos. O ensino do planejamento territorial. São Paulo: USP, 1967. Tese de Cátedra.
BOURDIEU, Pierre. Science de la science et réflexivité. Paris: Raisons d’Agir, 2001. CALABI, Donatella. Storia dell’urbanistica europea. Torino: Paravia, 2000.
COHEN, J. L. Objetos singulares y ciudades singulares. En torno al “Gran París”. In: BELIL, M., BORJA, J.; CORTI, M. (ed.). Ciudades, una ecuación impossible. Buenos Aires: Café de las Ciudades, 2012, pp. 169-180.
CREA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Trajetória e estado da arte da formação em engenharia, arquitetura e agronomia. Volume X – Arquitetura e Urbanismo. Brasília: CREA, 2010.
KOSELLECK, Reinhart. História dos conceitos: problemas teóricos e práticos. In: Estudos históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, nº 10, 1992, pp. 134-146.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Rio de Janeiro: Contraponto, PUCRJ, 2006.
MANTEGA, Guido. O Governo Geisel, o II PND e os economistas. In: Série Relatórios de Pesquisa nº 1997/03. São Paulo: EAESP/FGV, Núcleo de Pesquisas e Publicações, XXIII-4, outubro-dezembro 1982, pp. 551-584.
SECCI, Bernardo. Prima lesione di urbanistica. Roma-Bari: Laterza,
- SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. WILHEIM, Jorge. O substantivo e o adjetivo. São Paulo: Perspectiva, 1976.