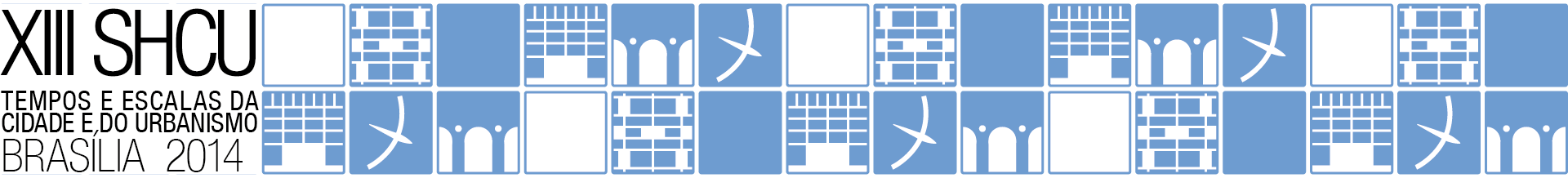O deslocamento do ofício do arquiteto e do urbanista na experiência de Oregon: uma série
Resumo
A partir da análise da experiência ensaiada por Christopher Alexander em 1970 na Universidade de Oregon nos EUA, buscou-se contribuir para o debate da participação nos processos de concepção do espaço urbano. Nessa análise é evidenciado que o próprio modo de elaborar um projeto já induz as suas possibilidades. Visando criar uma metodologia que pudesse reestabelecer a relação da comunidade com o seu ambiente, Alexander e seus colaboradores delegaram à comunidade acadêmica de Oregon a concepção dos projetos arquitetônicos e dos espaços livres. Entretanto para que esse deslocamento do ofício do arquiteto e do urbanista fosse possível, foi necessário um outro arranjo conceitual e prático do exercício de projeto. Diante disso, uma questão se impõe: esse novo arranjo teria fortalecido o sentido de comunidade e a relação desta com seu ambiente? Esta reestruturação, ao que parece, foi definida por uma série de conceitos e práticas: o rearranjo dos pilares da arquitetura e do urbanismo, a valorização da noção de uso predeterminado e a participação pessoal e operacional. Entretanto essa série evidencia ambiguidades. Conclui-se sobre essa experiência que a relação entre a comunidade e seu meio ambiente passa necessariamente pelos seguintes conceitos: a necessidade [como um uso pré- determinado], identidade , propriedade e controle. Noções estas que inevitavelmente contradizem os sentidos de coletividade, de comum, bem como inibem a reinvenção da própria comunidade.
Palavras-chave: participação, comunidade, método, projeto, urbano, Alexander
Abstract
Abstract Based on the analysis of the experiment conducted by Christopher Alexander in 1970 at the Oregon University, in the United States, we sought to contribute to the debate of participation of user groups in the urban space design. This analysis shows that the design method already implies its own possibilities. Intending to develop a new relationship between the communities and the environments, Alexander and his collaborators delegated to the Oregon University community the architectural designs of the open spaces. However, in order to make this job transference even possible, it was necessary to rearrange the very concept and practice of architectural design. Therefore, a question arises: Has this rearrangement strengthened the sense of community and its relation to its environment? This rearrangement, it seems, is defined by a series of concepts and practices: Rearrangement of the pillars of architecture and urban design; promotion of the notion of predetermined use; and personal and operational participation. But this series reveals ambiguities. It is concluded on the experiment that the relationship between the community and its environment necessarily goes through the following points: Necessity [as a predetermined use], identity, ownership, and control. But, these notions inevitably contradict the senses of: Collectivity, common good, as well as inhibit the reinvention of the community itself.
Key-words: Participation, community, method, design, urban, Alexander.
Diante de inúmeras práticas autoritárias intrínsecas ao exercício do arquiteto e do urbanista ocorridas no final do século XIX e na primeira metade do século XX o campo da arquitetura e do urbanismo viveu uma importante ressignificação de suas práticas nos anos 60. Diversos temas compuseram a agenda dessa ressignificação: simplificação da cidade, segregação social, ausência de participação e monotonia arquitetônica1. Nesse período surgiram inúmeras publicações e experiências que de alguma maneira tentam responder a esses temas na medida em que questionaram o próprio exercício profissional do arquiteto e do urbanista. Entre essas experiência se pode destacar, por sua ampla difusão, a ocorrida na Universidade de Oregon nos EUA, em 1970, coordenada pelo arquiteto e matemático austríaco Christopher Alexander. Formalizada em 1974 e publicada em 19752 pela primeira vez, essa experiência pode nos apontar importantes problematizações em torno da questão da
participação dos habitantes nos processos de concepção de planejamento e projeto urbano. Questão esta que vem se colocando, cada vez mais, como um tema central nas discussões contemporâneas desse campo.
A história recente da arquitetura e do planejamento engendrou a falsa percepção que só os arquitetos e os urbanistas são capazes de planejar o espaço construído. O testemunho dos dois ou três últimos milênios prova exatamente o contrário. Através da história dos homens a criação do ambiente, quase sempre, fora obras de profanos. [Alexander, 1976:50, 51]
Desta experiência trabalharemos, seguindo um método ensaístico, especificamente a questão do deslocamento do ofício do arquiteto e do urbanista relatado em The Oregon Experiment [1975]. Visando recuperar o elo entre a comunidade e seu espaço construído, os usuários passaram a ser os únicos capazes de conceber os projetos das edificações e dos espaços abertos, enquanto os arquitetos e urbanistas assumiram,
formalmente, um papel técnico de ajuste desses desenhos para a etapa de obras.3 Mas o que viabilizou esse deslocamento do papel do arquiteto e do urbanista? E quais são
os efeitos práticos dessa mudança no método de projeto ensaiado em Oregon?
Parece-nos que esse deslocamento do ofício do arquiteto e do urbanista nos evidencia uma série de conceitos e práticas: o rearranjo dos acentos dos pilares da arquitetura e do urbanismo (i); a afirmação do uso predeterminado (ii) e um entendimento de participação pessoal e operacional (iii).
O rearranjo dos pilares da arquitetura e do urbanismo
Os membros de uma coletividade são as únicas pessoas aptas a
1 Choay [2005].
2 The Oregon Experiment [1975], Une expérience d'urbanisme démocratique [1976] e Urbanismo y participación. El caso de la Universidad de Oregón. [1976].
3 Esse arranjo é o que Alexander deixa a entender, no entanto se analisarmos essa prática podemos
perceber que há um conjunto de dispositivos - inclusive os padrões - que foram criados pelos especialistas a priori da concepção de projeto pela comunidade. Diante disso, pode-se até mesmo questionar essa suposta neutralidade do arquiteto tão almejada. No entanto, não trataremos dessa questão nesse texto.
guiar um processo de crescimento orgânico. Elas conhecem melhor que qualquer outro suas necessidades, e o funcionamento – bom e mau – dos locais e dos edifícios, das estradas e dos espaços livres. [...] Pouco importa o talento dos arquitetos e dos urbanistas ou o cuidado que eles possuem em seus projetos: essas qualidades não são suficientes, por elas mesmas, para criar um tipo de ambiente que apresente a diversidade e ordem que nós procuramos. [Alexander, 1976: 41]
A citação acima demonstra dois pontos chaves para esse novo papel do arquiteto e urbanista assumido na metodologia dos padrões: a capacidade dos membros da comunidade e, simétrico a ela, a impotência do arquiteto. Mas o que é que os membros da comunidade podem que os arquitetos são incapazes? Os membros da comunidade serão os únicos capazes de conduzir o processo de projeto de um crescimento orgânico, porque eles conhecem profundamente as suas necessidades e o funcionamento dos espaços. Ou seja, o que os membros da comunidade podem oferecer seria justamente o que os arquitetos não poderiam saber tão bem quanto eles. Entretanto, seriam estes todos os conhecimentos e aptidões desejáveis para a concepção de um projeto arquitetônico e urbano?
Para pensarmos essa questão podemos recorrer à tríade fundamental vitruviana ou os pilares da arquitetura - firmitas (solidez), utilitas (utilidade) e venustas (beleza)4 - ou, ainda, a tétrade constituinte do urbanismo - saneamento, circulação, embelezamento e justiça social.5 Se considerarmos esses três pilares da arquitetura e os quatro do urbanismo pode-se notar claramente que na metodologia da experiência de Oregon há uma grande dissimetria entre eles. Soam silenciadas as questões estéticas e éticas6. A técnica parece estar condicionada não apenas a uma etapa posterior de projeto como a ter sua importância atenuada. Enquanto o uso ganha um grande acento e com ele todos aqueles que podem falar em seu nome. Isto é, esse arranjo dos pilares, essa outra melodia proporcionada pela variação dos acentos entre eles, não é neutra. Há aí uma arena. E nela um jogo de forças que silenciam e acentuam tendências, fazem variar o poder das personagens bem como apresentam diferentes efeitos desencadeados dos processos de projeto.
Com a valorização do uso, ou de um certo sentido de uso, um reposicionamento do ofício do arquiteto começa a ser sustentado a ponto deste ser impedido de participar ativamente da etapa de anteprojeto. É importante ressaltar que esta é a etapa que mais permite o desenvolvimento do exercício de composição, de criação, de um projeto arquitetônico ou urbano. Em quais condições, portanto, os arquitetos seriam
4 A tríade vitruviana é até hoje a mais usada para tratar a especificidade da arquitetura. No entanto ela não é a única para Alberti, por exemplo, os pilares seriam necessidade [solidez+necessidades], comodidade [usos] e prazer estético. [Choay, 1985:77].
5 Segundo Pereira [2003] poderíamos dizer que os pilares do urbanismo passaram de três para quatro. "[...] pode-se entretanto dizer que os discursos que pouco a pouco desenharam os contornos do Urbanismo gravitaram, como bem apontam os primeiros estudiosos da história, como Choay, Benevolo, Roncayolo, Sutcliffe, em torno do tripé da circulação, da higiene e do embelezamento. Entretanto, o que mostrou uma segunda geração de trabalhos, na qual se destacam os aportes de
Gaudin, Magri, Topalov, por exemplo, é que a 'nebulosa reformadora' se organizou também em torno de lutas políticas por igualdade, inclusão e justiça social." [Pereira, 2003: 71]
6 São as questões éticas em relação ao espaço construído que parecem silenciadas e não aquelas relativas à postura do arquiteto e urbanista.
destituídos da principal etapa de projeto? Como seria possível afirmar a pouca importância do talento e do cuidado de um arquiteto?
Tal afirmação é possível apenas quando o mais valioso para a concepção de um projeto passa a ser algo que os arquitetos, independentemente das suas atitudes e habilidades, são impossibilitados de desenvolver ou saber. Destituídos - em todos os casos - de seus talentos, do cuidado que possam ter e das forças criativas que possam os atravessar, os arquitetos e urbanistas deixam de ser vistos como personagens capazes de contribuir ativamente para etapa de anteprojeto. Restam a eles oficialmente as etapas posteriores para que nelas sejam desempenhados papéis técnicos no menor sentido do termo. Dito em outras palavras, para que o arquiteto pudesse ser considerado dispensável na experiência de Oregon precisou-se silenciar as noções de beleza e de técnica e valorizar a noção de uso, principalmente, as inacessíveis ao arquiteto.
No entanto esse jogo de acentos entre os pilares, que especificam o ofício da arquitetura e do urbanismo, não acontecem apenas entre eles, mas, também, em cada um deles. Isto é, os próprios sentidos de uso, de técnica, de ética e de poética são também cambiantes. Se pensarmos esses termos por polos de sentido - não com o compromisso de defini-los, mas apenas para sentirmos as possibilidades de suas variações - poderíamos dizer que em relação ao espaço construído a poética varia entre uma vaidade ou frescura de quem a cria e uma essência secreta possuída por poucos artistas; a técnica varia entre algo que apenas viabiliza a construção e a grande questão que a determina; a ética varia entre uma questão que passa fora do exercício de construir e a única questão que deveria ser verdadeiramente considerada; e o uso pode variar entre as práticas que já são efetuadas no espaço e as que ainda podem ser inventadas.
Essas diferenças de sentido deixam evidente que o que está em jogo não é apenas as dissonâncias entre os pilares. Há, também, uma variação dos sentidos atribuídos a eles que podem, até mesmo, tirá-los de um lugar de oposição e colocá-los de modo implicado uns aos outros. Por exemplo, a força criativa de uma construção para
Alberti estava na demanda dos homens, na medida em que estas ofereciam um horizonte ilimitado muito mais amplo que as necessidades7. Le Corbusier [2009] via na técnica não apenas uma grande possibilidade de expressão poética mas, também o caminho que alcançaria a ética do construir. E Camillo Sitte [1992] afirmava que uma atenção às relações poéticas entre os elementos que compunham o espaço urbano
traria efeitos nos transeuntes capazes de construir um sentido de comunidade.
Esses exemplos mostram que a visão, não rara - de que a poética detém toda a potência criativa de um projeto, a técnica a viabiliza e o uso diz respeito às funcionalidades do espaço - é um modo não apenas determinado mas reducionista de ver esses pilares fundamentais. É possível perceber que eles não são facilmente separáveis e tampouco que possuem um sentido único. Ao contrário, são todos passíveis de alternâncias de sentidos e com isso podem ser elevados a patamares criativos ou reduzidos a meros cumpridores de tarefas, bem como podem ser completamente separados ou intimamente relacionados. Sendo assim, não basta dizermos que o uso foi acentuado na metodologia usada em Oregon, é preciso nos
7 "Desde logo, Alberti constata que, uma vez satisfeita a necessidade original do abrigo, a demanda dos homens desenvolve e organiza o mundo construído ao sabor de suas invenções e de sua fantasia, num horizonte ilimitado que, por definição, foge às regras da necessidade." [Choay, 1985:90]
questionarmos: na prática dessa experiência o que era entendido como uso?
O uso determinado
A orientação de todo o processo apresentado por Alexander é associado aos termos necessidade, funcionalidade e eficácia. O diagnóstico dos padrões8 é dado segundo a sua eficácia e o dos espaços existentes é orientado em razão do seu bom funcionamento. O critério que define se um padrão permanece ou não no caderno de padrões é, também sua eficácia mas em relação ao problema que enfrenta. Se um projeto apresentado será ou não financiado dependem de quanto ele solucionam os problemas apontados no diagnóstico. A participação dos membros da comunidade, não por acaso chamados de usuários, é justificada no conhecimento dos usos e necessidades já estabelecidos. Mas que sentido é esse de uso que permeia toda essa
metodologia?
As práticas funcionais não totalizam todas as ações no espaço. Nem todos os movimentos realizados no espaço, nem todas as práticas ou ações dos usuários são determinadas, elas podem ser atitudes encarnadas de outra natureza. Para melhor explicitarmos esse apontamento nos valeremos de um trecho do livro Degas dança desenho de Paul Valéry. Ao falar sobre a dança o autor distingue dois tipos de movimentos voluntários: um que possui alguma ação exterior como fim e outro que não pode ser causado ou concluído por nenhum objeto localizado. Alcançar um objeto, chegar em um lugar ou modificar alguma percepção ou sensação em um ponto determinado, portanto, são práticas distintas de movimentos como “as cambalhotas de uma criança ou de um cão, a caminhada pela caminhada e o nado pelo nado” [Valéry,2012:28].
O primeiro tipo de movimento começa ao determinar seu fim e cessa ao alcançá-lo. Como por exemplo pegar um objeto em cima da mesa: primeiro se tem a necessidade de pegá-lo, depois o movimento de ir até a mesa é realizado e o objeto em mãos marca o fim do movimento. O segundo não pode ser provocado ou concluído por nenhum objeto determinado e ele cessa apenas quando alguma intervenção alheia a sua causa lhe acomete como o cansaço ou uma convenção. O seu fim seria antes a
criação de um estado ou a modificação do “nosso sentimento de energia”9 do que a conclusão de uma tarefa.
Mas não apenas o inicio e o fim são distintos, os dois tipos de movimentos se diferem, principalmente, no modo com que são percorridos. O primeiro funciona segundo uma lógica de economia das forças. Realizamos o caminho mais curto, simples e rápido para pegar um objeto em cima da mesa. Já o segundo, seria justo o avesso, não mais a economia mas a própria dispersão seria seu modo. Como uma caminhada no fim da tarde de um casal apaixonado. Eles normalmente não parecem se preocupar com a economia do caminho ou com um fim determinado.
Esses movimentos, que têm neles mesmos seu fim, e que têm como fim criar um estado, nascem da necessidade de serem realizados, ou de uma ocasião que os excite, mas esses
8 Os padrões são as regras estruturantes da metodologia usada nessa experiência. São orientações, diretrizes ou determinações de projeto que os usuários devem seguir ao compor um projeto. Apesar de constituírem uma regra os padrões explicitam o motivo de constituição da mesma, o que o diferencia das regras normalmente utilizadas nos planos diretores convencionais.
9 Valéry, 2012:28.
impulsos não determinam nenhuma direção no espaço. Podem ser desordenados. O animal, farto da imobilidade imposta, evade-se, bufa, fugindo de uma sensação e não de uma coisa; extravasa-se em galope e travessuras. Um homem, em quem a alegria, ou a raiva, ou a inquietude da alma, ou a brusca efervescência das ideais, libera uma energia que nenhum ato preciso pode absorver e esgotar em sua causa, levanta-se, vai, caminha a largos passos apressados, obedece, no espaço que percorre sem ver, ao aguilhão dessa potência superabundante... [...] O Universo da Dança e o Universo da Música têm relações íntimas sentidas por todos, mas ninguém apreendeu até agora seu mecanismo, nem mostrou sua necessidade. [Valéry, 2012: 28 a 30, grifo do autor]
Diante desses dois tipos de movimentos apresentados por Valéry podemos pensar o sentido de uso usado na experiência de Oregon. A rua pode ser usada para que uma pessoa chegue com eficácia no ponto de ônibus, mas também pode ser o caminho do casal de namorados que não possui destino definido. Afirmar o uso portanto pode ser algo muito vasto. Tudo o que fazemos em um espaço é uma maneira de usá-lo. No entanto Valéry faz uma distinção precisa entre modos distintos de praticar uma ação: os movimentos econômicos e pré-determinados e os movimentos dispersos e abertos a um fim imprevisto. E qual seriam os movimentos, as práticas evocadas quando o uso é anunciado na experiência protagonizada por Alexander?
Mostramos acima que o uso diversas vezes na experiência de Oregon acompanha as noções de necessidade, funcionalidades e eficácia. Esses termos são todos empregados no sentido dos movimentos econômicos e predeterminados. Ser eficaz é alcançar os resultados planejados, os objetivos, as metas. A necessidade é uma palavra empregada quando há a falta de algo determinado. E a funcionalidade é uma noção usada no sentido de cumprimento da ação esperada de uma máquina, de um produto, de um sistema. Em todas essas noções o conhecimento do fim está colocado, ou seja, se sabe qual é a meta para a noção de eficácia, do objeto ou da atividade que falta para a de necessidade e da ação que deve ser executada para a de funcionalidade. Esses termos tratam, portanto, de sistemas fechados, porque o fim já está dado.
Sendo assim é possível afirmar que a noção de uso estabelecida na metodologia dos padrões é aquela correspondente aos movimentos predeterminados, ou seja, os que já sabemos o seu fim de antemão. E esse é um ponto chave para o reposicionamento do ofício do arquiteto. É justamente porque as necessidades e as funcionalidades já estão dadas a priori do projeto que os membros da comunidade podem expressá-las. Ou seja, não apenas há um acento no uso mas, sobretudo, há um acento no uso predeterminado ocorrido antes do arquiteto e do urbanista estabelecer uma relação com a comunidade.
A participação pessoal e operacional
Esse modo de pensar o uso, ou o modo do fim determinado é notável não apenas quando ele é explicitado diretamente, mas também quando está implícito em outros conceitos como é o caso da participação. "A forma de participação mais pobre é aquela onde os usuários intervém como cliente do arquiteto. A forma mais completa, é aquela onde os usuários constroem eles mesmos os edifícios que lhes são
destinados." [Alexander, 1976: 46]
O conceito de participação sugere a maneira com que pode se dar a relação da comunidade com o seu espaço construído. E esta indução nos parece que corresponde, de alguma maneira, a um critério de eficácia. Participar é cumprir as metas do construir ou se apropriar das ações construtivas já conhecidas. Essa noção acaba fazendo da participação um conceito pessoal e operacional. Quem participa é necessariamente um membro da comunidade existente no momento do projeto [pessoal] e esse participante deve se apropriar das etapas de construção conhecidas, isto é, fazer o projeto propriamente dito e/ou construir a obra [operacional]. O sentido de eficácia se impõe na medida em que a meta da participação passa a estar visivelmente cumprida. Ou seja, é possível ver a olho nu a comunidade fazendo o projeto ou construindo a obra.
Mas a relação dos membros da comunidade com seu espaço construído estaria assim garantida? Seria este sentido operacional o desejado para essa relação? Quais são as questões suscitadas por esse modo de pensar a participação?
Alexander usa três noções para afirmar essa relação entre comunidade e espaço construído: identidade, propriedade e controle. Ao serem proprietárias as pessoas poderiam se identificar com o espaço a ponto de controlá-lo e transformá-lo. No entanto, o próprio Alexander10 aponta alguns problemas e contradições desse modo de abordar essa relação. Questões de escala, complexidade e de pertencimento são
facilmente apontados como pontos dificultosos dentro dessa visão de participação.
Quando o projeto se destina para mais de 100 pessoas, por exemplo, a participação direta e operacional tão almejada começa a escapar à possibilidade de formação de grupos de trabalhos pequenos [tidos como no máximo de 7 pessoas]. Seriam perdidos assim os vínculos diretos [ou intermediados por uma pessoa] entre os membros da comunidade que projetam e os outros que não projetam, recriando a distância que se pretendeu eliminar. Outra questão levantada se trata da complexidade de alguns projetos que exigem a combinação de diversos padrões ao mesmo tempo, ficando uma tarefa muito complexa para os membros da comunidade. E, além disso, Alexander coloca a questão do que fazer com as áreas sem pertencimento ou de pertencimentos efêmeros.
A individualização e a operacionalização da relação entre a comunidade e o seu espaço construído - denominada participação nesse caso - nos remete a três questões: uma espacial, uma temporal e outra em relação à produção de subjetividade. Para que esse modo de participação possa ser operado é preciso fixar uma área, alguma frequências e usos além dos próprios membros da comunidade.
A quem pertence a praça de uma comunidade? Aos moradores do entorno da praça ou aos que moram no bairro delimitado por uma área administrativa? Alguns poderiam responder: seriam as pessoas que frequentam a praça. Mas com que periodicidade? Para que usos? A praça pertence aos frequentadores diários? Os moradores de rua seriam proprietários dela? E ainda há os frequentadores que já morreram e os que irão nascer? Por exemplo, a praça em homenagem ao Paulo da Portela em Osvaldo Cruz seria mais dele do que dos moradores atuais?
10 No início do capítulo Diagnosis em The Oregon Experiment.
Determinar uma coletividade legítima de responder em nome de uma praça não é tarefa tão fácil quanto parece. A noção de propriedade - já enraizada em nossas práticas - costuma nos dar a falsa ideia de que é simples determinar os "donos" dos espaços públicos. No entanto, a dificuldade de determinar um coletivo para uma praça não é apenas espacial [área] e temporal [uso] como já demonstramos. Há ainda uma impessoalidade ligada aos desejos e as necessidades que poderiam ser expressos por esses supostos "donos" da praça. Se encontrarmos um coletivo para essa praça nos depararíamos, ainda, com a questão da produção de subjetividade desse coletivo.
Suponhamos, em um exemplo hipotético, que Paulo tenha demandado uma quadra de futebol, mas 10 anos depois, já adulto, não a usaria mais. Esse simples exemplo demonstra dois aspectos da natureza impessoal dos desejos e usos: Paulo não é fixo e a própria demanda não é apenas de Paulo.11 No primeiro caso, a demanda de Paulo muda. Ou seja, a impessoalidade não estaria referida apenas a um coletivo [várias pessoalidades], mas é também facilmente percebida entre Paulo e ele mesmo. E, por
outro lado, o que Paulo deseja não é natural [Paulo não nasceu com seus desejos] e sim foi constituído por inúmeras relações ao longo de sua existência que ocorreram voluntariamente e involuntariamente. Solicitar essa quadra não nos parece ser uma ideia específica de Paulo. Há aí um elemento da cultura brasileira implicado nesse desejo, o que evidencia que Paulo não existe isoladamente. Ele já é, de certa maneira, um coletivo cambiante.
Mesmo que tenhamos visto que a propriedade [dos espaços públicos] e a pessoalidade são noções questionáveis diante de uma abertura inerente da vida, estas são ideias consolidadas na maneira de viver dos dias de hoje. As noções de individualidade, propriedade, controle e de necessidades pessoais conduzem nossas práticas cotidianas, mesmo que possamos questioná-las em um simples exemplo como este de Paulo. E isso é determinante não apenas para o entendimento recorrente da participação nos processos de projeto, mas também para entender os efeitos decorrentes dessas noções em uma reunião comunitária.
Quando cada um se entende como entidade isolada, as brigas e as disputas de interesses particulares se tornam inevitáveis. Portanto, uma vez criado e legitimado o coletivo dessa praça, não é raro, ao menos no caso brasileiro, encontrarmos disputas de interesses particulares entre os membros da comunidade. No nosso exemplo, uns poderiam defender a construção de uma quadra de futebol e outros a de um quiosque. Nessa disputa venceria o mais forte, seja por convencimento, por autoridade do saber [poder-saber]12, por força física, política ou financeira.
Aqui nota-se que a questão se complica e o que queremos mostrar é que essa lógica de pensar a participação não é ancorada em conceitos necessariamente verdadeiros. Ao contrário, ela é um modo de pensar a relação da comunidade com o seu ambiente e que pode causar uma ambiguidade. Não é necessário, como já demonstramos, pensar o sujeito feito uma entidade isolada e fixa bem como o espaço público como um local
11 Através desse exemplo visamos expor a noção de subjetividade, ou da produção de subjetividade, defendida por Gilles Deleuze e Felix Guattari, que se opõe as definições que apostam em uma identidade ou naturalidade universal dos sujeitos como a da filosofia clássica, da Gestalt e da Psicanálise, entre outras.
12 O conceito de poder-saber foi desenvolvido por Michel Foucault. Os principais livros que tratam essa questão são As Palavras e as Coisas [1966] e Arqueologia do Saber [1969]. Ele mostrou amplamente
como o saber pode ser usado como um instrumento de poder, isto é, um instrumento que induzirá condutas e ações sobre sujeitos atuantes.
que deva ter proprietários. Essas noções são invenções de um certo modo de ser que parece não estar em sintonia com as noção de coletividade ou de comum. O privado ou pessoal/proprietário/controlado se opõe ao público ou impessoal/comum/livre.
A contradição que se apresenta com esses conceitos pode ser traduzida em algumas questões: como um sentido comunitário poderia emergir de interesses particulares? Como a reconexão da comunidade com seu ambiente poderia estar ancorada em noções de propriedade, pessoalidade e controle se elas afirmam mais os interesses pessoais do que os comuns? Se diversos membros de uma comunidade construíssem um edifício que servisse mais a interesses particulares de terceiros [ou de um outro grupo da própria comunidade] poderíamos afirmar que o elo da comunidade com o seu ambiente seria reconectado apenas porque os membros da comunidade são os operários da construção do edifício?
*
Na série aqui apresentada - deslocamento do ofício do arquiteto, rearranjo dos pilares da arquitetura e do urbanismo, valorização da noção de uso predeterminado e participação pessoal e operacional - se pode notar facilmente que as metodologias de projeto urbano e arquitetônico não são neutras. Subjazem aos métodos uma série de questões e práticas que vão uma a uma, ao desencadear uma na outra, constituindo outros acentos, novas hierarquias de poder, rearranjos de papéis e outros sentidos de composição de um projeto urbano e arquitetônico.
As questões apontadas pela série apresentada não nos parecem exclusivas da experiência de Oregon. Ao contrário, são recorrentes quando o tema da participação dos habitantes na concepção de um projeto urbano é evocado. É corriqueiro pensarmos que a comunidade deve participar do projeto de modo direto ao expressar os seus usos existentes. Entretanto, a operacionalização do projeto ou da obra pela comunidade não pode garantir a reconexão do elo entre esta e seu ambiente, bem como as noções de propriedade, identidade e controle que normalmente sustentam essa operacionalização parecem advogar contra a constituição de um espaço comum. Além disso, a noção de uso predeterminado ou existente parece limitar o sentido de necessidade a um movimento econômico e com seu fim definido de antemão. Fazendo com que esse tão importante pilar da arquitetura e do urbanismo: o uso, a circulação, seja visto de modo restrito e em oposição aos demais. Ao silenciar ou atenuar a estética, a ética e a técnica o uso predeterminado parece legitimar o deslocamento do ofício do arquiteto.
Se a luta contra a tirania nas práticas da arquitetura e do urbanismo é legítima, parece- nos que a experiência de Oregon aponta a sua complexidade. Fica evidente, portanto, que o próprio método de projeto não é neutro. Ele já carrega os sentidos que serão inevitavelmente expressos no projeto. Sendo assim, as noções de necessidade [predeterminada], propriedade, identidade e controle podem ser questionadas em processos de projeto arquitetônico ou urbanístico que vislumbram em seu horizonte o fortalecimento da comunidade em questão. Caso contrário, corremos o risco de perder não apenas a possibilidade de criação de um projeto ancorado em um ofício milenar; mas, também, e sobretudo, a capacidade de reinvenção da comunidade visto que na experiência de Oregon ela é encerrada em seu próprio uso recente. Ora, a comunidade pode querer se reinventar vislumbrando um futuro ainda não dado.
Referências bibliográficas
ALEXANDER, C. Une expérience d'urbanisme démocratique. Paris. Éditions du Seuil. 1976.
CHOAY, F. A regra e o modelo: sobre a teoria da arquitetura e do urbanismo. São Paulo. Perspectiva, p.77, 1980.
. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. São Paulo. Ed.Perspectiva, p.1-56, 2005.
GUATARRI, F. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo. Brasiliense, 1987.
LE CORBUSIER. Urbanismo. 3ed. São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2009.
PEREIRA, M. S. Notas sobre o Urbanismo no Brasil: construções e crises de um campo disciplinar. In: MACHADO, D. B. P.et al (org.) Urbanismo em Questão. Rio de Janeiro. Editora PROURB, p.55-83 , 2003.
SITTE, C. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. São Paulo. Editora Ática, 1992.
VALÉRY, P. Degas dança desenho. 1ed portátil. São Paulo. Cosac Naif, 2012.