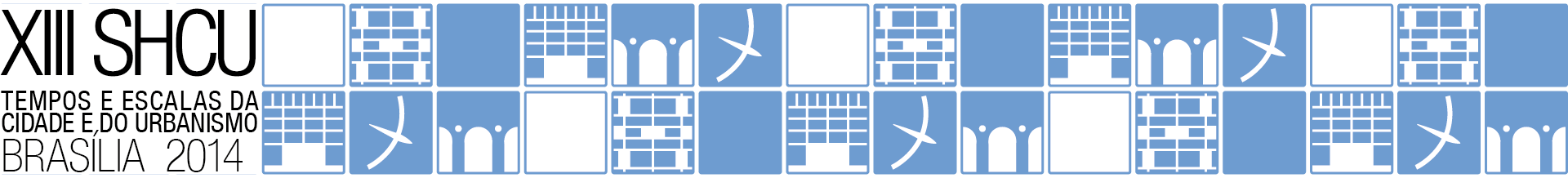No avesso dos cartazes, uma Cidade Perversa
Resumo
Parto da hipótese que uma das explicações possíveis para se entender as “jornadas de junho” jogadas nas ruas brasileiras é a compreensão do papel das cidades na percepção que o cidadão tem, seja dos mistérios do laço social, seja da dramatização da sociabilidade encenada no espaço público ou no espaço privado e/ou íntimo. Na medida em que a vida privada tragou toda a luz da esfera pública que iluminava a cena urbana, muito da experiência urbana reduziu-se diante do espetáculo de uma história, tributária, muito mais das estratégias do sujeito do que da cooperação coletiva, o que abriria caminho para novas formas de individualização, a partir do desenho de um modelo de homem psicológico e não mais social. Tal situação, levando à fragilização de uma identidade coletiva, construída à sombra de uma tradição de vida coletiva, redundou numa descoletivização e numa uma verdadeira “adesão a si”. Este fenômeno, onde o limite entre o público e o privado leva à regras pouco nítidas, potencializou o aparecimento de indivíduos com “excesso de subjetividade”. Nesse sentido os constrangimentos sociais não são mais legíveis e a cidade deixa de ser símbolo para se tornar uma chance de mais-valias pessoais, abrindo caminho para “a passagem ao ato”. Uma cidade tal, nada acrescenta ao mundo em termos de sua durabilidade enquanto projeto de vida humana. Uma cidade tal vai se tornando perversa. É, de uma certa maneira, contra isso, que as ruas se incendiaram.
Palavras- chave: Cidade Perversa, Revolta, Rua
Abstract
I start with the hypothesis that a possible explanation to understand the "June days", played on Brazilian streets, is to understand the role of cities in the perception that citizens have of the mysteries of the social bond. As the private life swallowed all the light of the public sphere that illuminated the urban scene, much of the urban experience was reduced to a individual story, rather than something resulting from collective cooperation. Thence arise new forms of individualization, from the design of a model of psychological man and no more social. Such a situation, leading to embrittlement of a collective identity, built in the shadow of a tradition of collective life, resulted in a decollectivisation and in a real "adhesion to itself". This phenomenon, where the boundary between public and private rules remains nuclear, favors the appearance of individuals with "excessive subjectivity". Accordingly the social constraints are no longer legible and the city ceases to be a symbol, to become a possibility of personal gains, paving the way for "the passage to the act". One a such town adds nothing to the world in terms of its durability while human project. Such town becomes perverse. It is , in a sense , against this, that the streets burned.
Keywords: wicked city, revolt, street.
Um dos elementos fundamentais para se compreender o grito das ruas das jornadas de junho e julho, a meu ver, é a compreensão do papel da cidade no comportamento dos indivíduos. Certamente que, se atentarmos para a dimensão urbana das reivindicações, os temas da precariedade da cidade vêm de imediato à tona: mobilidade urbana, atendimento médico, ensino, segurança, truculência policial, tudo isso sob a sombra do direito à cidade. Entretanto não vou me ater à objetividade dessas demandas. Interessa-me mais escavar ali, num lugar mais subjetivo que objetivo, onde o sangue ferve, a emoção eclode, onde a raiva se manifesta, onde se passa ao ato, mas também, onde a solidariedade e o coletivo se impõem. Trata-se de uma zona sombreada, sem qualquer palpabilidade, e onde o comportamento, o inconsciente, a
paixão, a pulsão, os afetos rasgam a pele da cidade e se impõem como evidências atordoantes. A minha hipótese é que algo absolutamente novo se manifestou no comportamento dos cidadãos levando-os a ver a rua não mais como lugar de fluxos, espaço de circulação e de consumo, ou seja, não mais lugar da visibilidade, de um urbanismo e de uma arquitetura “espetaculares”, cada vez mais fora da escala humana e tampouco como espaço onde as grandes empresas expõem os objetos de desejo do consumo aos passantes. De repente a rua ganha uma qualidade inesperada que a transforma na metonímia da cidade, da cidadania, da política, da ética, até mesmo, para alguns, da nação e da pátria. Ora, diante da espetacularidade urbana e da promessa de felicidade na cidade, a partir de um conforto sem limites, haurido dos ‘gadgets’ de todo tipo que inundam o mercado e os desejos de consumo, a simples idéia de uma rua convulsionada por desejos inesperados e incontroláveis, assustou até mesmo os poderes constituídos. Assim sendo a cidade revolta parece querer recuperar algo de sua tradição de transcendência, que repousa naquilo que dá sentido à vida urbana para além de sua materialidade: os valores partilhados derivados da vida coletiva. Tais valores são, justamente, o que legitimam o poder urbano, que balizam os comportamentos, dão a pauta de uma orientação genérica de condutas nas interações sociais e são a referência à circulação dos desejos. Mais que uma impositividade constrangedora, o poder urbano é uma referência a partir da qual as relações sociais são construídas e ganham sentido, fazendo da cidade a chave para a articulação de um pacto urbano entre sujeitos diferentes e desejos conflitantes.
Mas eis que o drama da cidade volta como o “retorno do recalcado”. As multidões tomam a rua, o evitamento do outro dá lugar à comunhão, o contato se estreita, a cidade supera sua mudez pelas ruas que falam, berram, gritam numa língua/linguagem antibabélica que todos conseguem entender. O mito da cidade se atualiza possibilitando novas narrativas que se manifestam tentando dar sentido ao absolutamente novo: diante de enunciados que evocavam um funcionamento pulsional da cidade, impõe-se uma novíssima narrativa cidadã, vazada no simbólico (em sua rejeição ao pulsional) e que por isso mesmo se estrutura na linguagem (veja-se as palavras de ordem das manifestações e a profusão de cartazes, onde cada um podia manifestar suas reivindicações). Por momentos parecemos divisar o espírito da Pólis cujos fundamentos políticos baseavam-se na autonomia, na isonomia e na publicidade da vida (Ver MEGA, 2001, p.19).
Por isso mesmo não tenho qualquer dúvida de que as manifestações devem muito a uma inesperada politização da vergonha. A vergonha como um sentimento capaz de atualizar a pauta da moralidade vigente e que faz emergir o decoro como tentativa de se impor a uma perversa falta de culpa por parte dos infratores. Aquilo que deveria operar como um verdadeiro restaurador do social, a vergonha de ser “pego com a mão na cumbuca”, no reconhecimento da violação de um conjunto de procedimentos pelos quais cada um deveria se sentir responsável, perdeu seu poder de constranger o decoro público e se tornou uma coisa natural. A vergonha não deve, pois, ser pensada apenas na sua miudeza cotidiana de pequenas quebras da continuidade nos relacionamentos entre as pessoas que, uma vez manifestada, repara as relações que foram mutiladas (MARTINS, 1999, pp. 9, 10). A vergonha “permite também reconhecer mudanças sociais em andamento, antes que se configurem as alterações visíveis das grandes estruturas sociais anunciadoras de que a sociedade mudou” (IDEM, p.10). O decoro, ou seja, o comportamento para evitar a vergonha, interessa, pois, como “pauta da moralidade do homem comum, como genérica orientação de conduta... O decoro [é mesmo uma] referência por meio da qual as relações sociais são construídas... Sentir vergonha e embaraço apenas indica que as pessoas são orientadas por uma pauta do que é certo e do que é errado... É uma espécie de manual de boa conduta que cada um vai utilizando, que aponta todo o tempo para a quebra ou não de processo interativo” (Idem, p. 10)
Para materializar os processos que descrevo acima, debrucei-me numa análise da nuvem de palavras que circularam pelo twitter nos primeiros momentos das reivindicações, que aponta, segundo as análises feitas por uma empresa especializada na análise das redes sociais e big data, para a existência de um mosaico de insatisfações que podem ser organizadas em seis conjuntos de idéias/palavras associadas, coisa feita a partir da tag #ogiganteacordou: corrupção, tarifa/transporte, partidos políticos, vandalismo/violência, Exército/Polícia Militar e nação/pátria (O Globo, 26/06/2013, p.8). Paralelo a isso e para adensarmos nossa análise temos os cartazes e as palavras de ordem que inundaram as ruas de linguagem. Estou tomando tudo isso um pouco como a psicanálise toma o inconsciente, que se estrutura na forma de uma linguagem. Façamos, pois, esse inconsciente das ruas falar.
Em pesquisa realizada no Google em sites sobre os cartazes que, sintomaticamente, vieram à tona espontaneamente, elaborados ao bel-prazer de cada um e por isso mesmo tendo a potência de ecoar a multiplicidade de críticas, de abordagens, de percepções e de linguagens que se impuseram tentando construir um discurso de resistência e mesmo de proposição à situação vigente, pude perceber, num universo de mais de 200 cartazes, os contornos dos protestos, as diferentes demandas e o quebra-cabeça de insatisfações. Constatei que, de alguma maneira os conjuntos de idéias-palavras que circularam pelo twitter, de alguma maneira, se mantinham, quando escutávamos a linguagem da rua expressa nas toscas cartolinas. No entanto, considerei que era necessário aprofundar e melhor qualificar o que estava sendo dito. Assim sendo reorganizei os ditos dos cartazes em quatro grandes grupos analíticos, ou seja em 4 diferentes percepções dos acontecimentos: 1- Críticas ao país, à política e aos políticos; 2- Exigências de direitos; 3- Coletivismo, vida pública; 4- Afetos. Cada percepção, à sua maneira, procurava expressar, no plano da linguagem, não exatamente uma diretiva política para o Brasil, mas uma espécie de recado, de “dica”, de “toque”, quase que pessoal, para que o poder se “mancasse”, diria mesmo, na linguagem cotidiana, para que o poder “tivesse um mínimo de noção”. Assim, a grosso modo, procurei captar o espírito da rua, tentando entender o que elas diziam, em sua irritação, sua raiva, sua indignação, seu repúdio, e, principalmente, em sua consciência dos males que assolam o país. Constatei que, numa linguagem muito mais coloquial, diferente das palavras de ordem contra o regime militar que assolou o país -“Abaixo a ditadura. O povo no poder”, “O povo unido, jamais será vencido”, “Contra a repressão”, “Mais verbas, menos canhão”, etc.-, que o conjunto de dizeres que pululavam pelas ruas, conformavam uma síntese de razão e emoção, de questões, que confluíam para a estruturação de um novo imaginário social que potencializasse a articulação de novos pactos, seja pelo político, seja pela cidadania, seja pela vida pública, que visavam reconduzir o país ao mundo da ética, da lei, da ordem institucional, da verdade, da transparência, da confiança e da justiça. Em outros termos, que levasse a um imaginário social que fizesse prevalecer o simbólico, instância de elaboração de possíveis sublimações como alternativa à direta passagem ao ato, evitando com isso que a política fosse uma “decisão do impolítico, (isto é, da vida nua)” (AGAMBEM, 2007, p. 180). Vida nua aqui, segundo Agamben, se referindo a simples vida natural, confinada ao lar, mera vida reprodutiva, frente a vida qualificada, vida pública, própria da pólis (AGAMBEN, 2007, p.10). Política e pólis conformando, pois, a possibilidade de passagem da voz à linguagem, que nos tira da dualidade animal prazeroso x doloroso e nos atira na escolha moral entre o bem e o mal ou entre o justo e o injusto( AGAMBEN, 2007, p.10)
Antes, no entanto, uma breve e necessária consideração sobre os cartazes. Assistiu-se, com a proliferação dos cartazes, a uma verdadeira retomada da linguagem no espaço público como arma no enfrentamento do dissenso. Numa sociedade cujas cidades foram seduzidas, capturadas e depois assaltadas pela mídia, que martela suavemente nossa razão e sentidos, que nos cala e nos põe na boca e na alma os ditames do consumo, que nos cega com suas imagens perfeitas, politicamente corretas e... patéticas, dirigindo nosso olhar, através do
buraco da fechadura, para a ob-cena big brotheriana, fazer vir à tona a palavra, que balouçou em frágeis cartolinas e que enxotou da vida pública, por alguns momentos, o lixo midiático que nos seduz a consumir, é um ganho, no plano do simbólico, bastante expressivo. É por isso que a conquista da rua pela linguagem e a disputa de discursos com a mídia traz de volta a promessa de reconquista da esfera pública. Vejamos, pois, o que nos contam os cartazes que rasgaram a noite brasileira em meio a porretadas, tiros, gazes, explosões e bombas de todos os tipos.
De cartazes que tremulam na noite
Segundo Dany-Robert Dufour, autor do livro “Cidade Perversa”, uma tal cidade seria aquela que opera remetendo em primeiro plano às leis da natureza, cujo funcionamento pulsional será privilegiado sobre o funcionamento simbólico, logo, daí extraímos que a Cidade Clássica obedece às leis criadas pelos homens para escapar às leis da natureza( Dufour, 2008, pp. 277, 278). Pensar a subjetivação do homem contemporâneo e, portanto, o seu comportamento no plano da urbanidade, significa pensá-lo teatralizando sua vida nas mega cidades atuais frente às possibilidades da cultura que nos faz animais simbólicos. Diante, pois, do processo de socialização nos deparamos com os três enunciados possíveis das formas de subjetivação: o neurótico, o perverso e o psicótico (Dufour, 2008, p.298, 300). Minha hipótese é que a perda da transcendência, fundada na perda da referência divina clássica e que depois se distribui para outros referentes (a família, a escola, o rei, a república, o nacionalismo, a raça, etc.), conduziu o indivíduo pós-moderno a afrontar o paradoxo da auto-fundação, na crença que a única lei que lhe interessa é a que ele mesmo criou. Afrontar esse paradoxo, segundo Dufour, “é o preço por se livrar das grandes narrativas que sustentavam uma figura possível do outro. Donde o crescimento atual dos casos de perversão e psicose dita social”( Dufour, 2008, pp. 296,297). O que interessa aqui nessa generalização da teoria é tomar a recusa da Lei como um índice para uma cidade perversa e também, a recusa da Lei pela cidade, como um índice que permitirá a alguns tantos o caminho do comportamento perverso. Desta maneira, a fim de poder lidar com essa manifestação de recusa do social- justamente o lugar “onde se aprende a gozar através das normas partilhadas”- (SAFATLE, 2008, p.138), impõe-se a necessidade de um novo quadro conceitual para dar forma a economia libidinal, o que implica, segundo Dufour, numa “reorganização fálica do discurso”, já que “a palavra se interpõe entre a pulsão e a satisfação” (Dufour, 2008, pp.351, 352, 353). É dentro desta perspectiva,pois, que vou tomar os cartazes empunhados nas manifestações, como uma tentativa de mostrar como eles podem nos contar, pelo avesso, algo de nossas cidades que cada vez mais vão se tornando perversas.
Que novas “ficções”, que novos mundos, que novas vidas, que novas relações, que novas cidades nos propõem a rua armada de cartolina e municiada de canetas coloridas? Como foi que sem estoques de balas de borracha, sem os estrondos das bombas de efeito moral, sem a pimenta -que no cú dos outros é refresco- como foi que, armada como quem vai para a creche para a aulinha de arte, como foi que, os bravos garotos e garotas das cidades brasileiras, sacudiram o poder e fizeram incendiar, de novo, a imaginação de um país, que em pleno inverno desejou a primavera? Sem passar ao ato (pelo menos a imensa maioria), só no gogó e na escrita, reintroduziram o simbólico, e, portanto, a linguagem e a cultura no repertório das cidades brasileiras. Nada foi poupado, da presidenta à avidez petista de poder; da arrogância dos governadores à truculência, despreparo e burrice das forças de segurança; dos medíocres, patéticos e corruptos políticos aos seus indecentes comportamentos públicos; da mesquinharia e corrupção das empresas de ônibus à fragilidade das vidraças dos caixas eletrônicos, que com sua falsa transparência de vidro escondem os segredos de como lucrar muito no Brasil. E em uma semana, o colosso, a sétima economia do mundo, o gigante adormecido, acordou e vomitou o lixo do luxo. Quem diria que o país dos sonhos para uns poucos e pesadelos de muitos, acordaria em plena segunda feira sendo o sonho de muitos e o
pesadelo daqueles que não pisam na rua e nem andam de ônibus? E nem era carnaval!!! A rua exultava, coloria-se, rugia, esperneava, e nem era carnaval! E os estandartes das tropas de garotas e garotos erguiam-se aos céus, como se fossem os estandartes da Roma imperial, bradando nada mais, nada menos, por feliz-cidade, talvez apenas por felicidade, agora, aqui, na rua, no Brasil. Mesmo que a felicidade fosse, como queria um cartaz “Queremos kinder ovo ao preço de 1 real”, ou outro que bradava “Queremos mais ruivas no Brasil”, ou outro ainda que pedia “Pelo fim do funk alto no Busão”, que se soma à contundência deste que diz, “Pelo fim da encoxada nos ônibus. Respeito às mulheres” e mais outro que demandava, “Abaixo os impostos. Não tá dando nem pr’a comprar uma calça de R$300,00 para uma jovem de 16 anos”.
A rua se abria para acolher corações, mentes, sonhos, desejos, demandas, utopias, críticas, deboches, ironias e um corrosivo senso de humor, como no cartaz que dizia, “Tem tanta coisa errada que nem cabe no cartaz” e naquele que lamentava, “O governo tá pior que meu ex- namorado”.
Observando-se o conjunto da produção dessas toscas tabuletas de papel fica-se com a sensação que elas atiram para qualquer lado, como aquela que diz, “Eu sou contra tudo” e mais aquela, “Tá tudo errado”. De fato observa-se que a ira se distribuiu democraticamente, generalizando-se numa crítica ao governo e aos políticos, às instituições, às condições de vida no país, mas também à sociedade brasileira e seus valores como “comunidade imaginária”. Não há, no entanto, como ignorar o verdadeiro frenesi de ataques à moralidade pública. A crítica, intencionalmente, se escora na linguagem informacional usada para dar conta da capacidade de regeneração de um computador. É como se o Brasil fosse uma máquina que precisasse se regenerar. É o que se vê em cartazes como, “Aguarde um instante: estamos atualizando o sistema Brasil”, ou mesmo, “System Error! Deseja formatar o Brasil? Sim ou Não?”. Próximo a isso outro cartaz se desculpava, como se o país tivesse entrado em obra, “Com licença. Estamos mudando nosso país”. Sintomaticamente, percebe-se que há um clamor por toda espécie de “ordem”, no sentido de propiciar um mínimo de funcionamento da sociedade e do social, da cidade e da urbanidade e, no limite, da própria civilidade e da maneira como o país se conta sua história. Poderia parecer estranho esse clamor por “ordem”, pois isso é próprio das marchas conservadoras que querem domesticar as forças da transformação. E, no entanto, as manifestações de rua não parecem reivindicar tais transformações, nem no sentido revolucionário e tampouco no libertário. O que parece que está em questão é o mais absolutamente elementar direito: o direito à cidade, que supõe a legitimação da urbanidade como condição básica para a instauração de um pacto urbano. Tal condição é absolutamente elementar na possibilidade de fazer da experiência urbana, uma experiência simbólica, que pela elaboração, em vez da ação direta, enfrente a dessublimação e evite que se “passe ao ato” nos dissensos pela constituição dos laços sociais.
A rua clama, pois, por fazer parte da cidade no sentido de constituição de novas narrativas diante da diluição das grandes narrativas referenciais da vida coletiva, e que foram substituídas, como anotamos acima, por pequenas narrativas, próprias da mídia, da política e da economia, que com seu linguajar despolitizado e pretensamente neutro e apolítico, quer ter se transformado na verdade da sociedade. Não se aposta, portanto, num futuro de grandes transformações mas numa espécie de presente, numa imediatez que resgate direitos e valores solapados e reconstitua uma ordem mínima que faça valer a crença e a confiança na vida coletiva, seja da nação, da sociedade ou da cidade, coisa magnificamente expressa nos muitos cartazes e mesmo no hashtag “O gigante acordou”. Não nos esqueçamos que o sono em que o Brasil caíra já tinha sido denunciado por Chico Buarque, ao final da ditadura, na música “Vai passar”, quando ele canta: “Dormia a pátria-mãe tão distraída, sem saber que era subtraída, em tenebrosas transações...”.
O resgate do passado, a retomada da Lei -nas cidades que iam se pervertendo numa “economia de gozo”, que “encoraja a ceder a tudo aquilo que promete satisfação pulsional, apresentada como realização do índivíduo” e não mais a perspectiva do autogoverno a partir da renúncia aos pequenos prazeres- (DUFOUR, 2009, pp. 318, 352), é coisa possível de se ler no cartaz que dizia, “ Entre nós reviva Atenas para assombrar os tiranos". Na mesma dicção o cartaz “Sai do Playstation (ou do X BOX) e vem pra’ rua”, é sugestão de uma viagem de volta do futuro individualizante para um presente onde a rua ainda é o lugar da prática cidadã. A retomada da rua como lugar da política e não mais só como lugar de fluxos e produtividade, na tentativa de reatar com a tradição pública da cidade, é certamente uma abertura para um novo tempo em que se possa dizer de novo “a praça é do povo”. É o que suscitam os cartazes que dizem, “Quem tem boca vai à rua” e “Vim pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil”. A rua passa a ser um lugar de transparência frente a obscuridade e segredos daqueles que operam a coisa pública em gabinetes, é o que expressa o indignado cartaz que convocava, “As pessoas vão ver que estão sendo roubadas. Vamos para as ruas”, que se desdobra em outro que o completa, “Fechamos as ruas para abrir caminhos” e seguido daquele que simplesmente convida, “Vem pra’rua”! É a cidade não mais como um simples suporte geográfico, um conjunto de lugares, mas um “jogo de relações” (PECHMAN, 2008, p. 207)
Outra série de cartazes coloca em cena um dos princípios básicos na formação da mãe de todas as cidades -a Pólis-, que é a questão da publicidade, ou seja o direito de ser ouvido como parte constituinte do conflito político. O direito de ser ouvido é a possibilidade de ser reconhecido e considerado em pé de igualdade como parte nas negociações, é o que grita o cartaz, “Um povo mudo não muda”. Escrito na cartolina, o dito, “Na minha pátria eu não fico mais calado” parece ser uma tentativa de retomada do protagonismo do cidadão pela narrativa, que se manifesta na intenção de reconstituição de narrativas que se calaram. Assim como aquela adolescente que, à porta de casa com um cartaz, clamava para que “falassem” por ela, “Obrigado por irem a rua lutar por mim. Minha mãe não deixa”, igualmente como outro que pregava, “Paz sem voz. Não é paz. É medo” e mais outro que dizia, “Que só beijos te tapem a boca”.
Na esperança de recompor uma ética do autogoverno que possibilite a cada um ter um lugar na cidade e na sociedade, a partir de leis que a todos submetem, e dão legitimidade ao compartilhamento da cidade e cidadania, vimos desfraldarem-se outro conjunto de cartazes que bradavam, “Menos eu e mais nós”, “Nós somos o futuro do Brasil”, “A consciência do povo daqui. É o medo dos homens de lá”, “O povo não deve temer seu governo. O governo deve temer seu povo”, “Não contavam com nossa astúcia”, “Ensinei minha filha lutar .Tô aqui pra’apoiar”, “Os jovens de 1968 apóiam os jovens de 2013”.
Muitos outros cartazes e outras exigências riscaram a noite brasileira nessas jornadas avinagradas de junho de 2013 tentando afugentar as “pequenas narrativas egóticas”, que no desconhecimento de qualquer referência mais transcedental, que vá além dos próprios umbigos , se instalaram na vida pública e no espaço público, se legitimando para si mesmas, num país pleno de leis. A perversão do político, a partir das “incivilidades”, do “progresso do informal”, das “estratégias individuais” de assalto à coisa pública, da possibilidade de uma nova “intersubjetividade substituindo o laço social pelo vínculo interindividual, da “psicologização das relações”, da ascensão “do insignificante e de um processo de desintitucionalização, de desengajamento, de desvinculamento e descivilização”, levou à irrupção do imediatismo, à incivilidade e ao declínio da vida pública, facilitando com isso a adesão a si e a compreensão individualizada da Lei (Ver PECHMAN, 2008, pp. 198,199,200,201,203,204). Nesse sentido esboça-se um novo modelo de personalidade incapacitada de ler e compreender os constrangimentos sociais. “Não é que os constrangimentos sociais, que nos seus limites possibilitam a sociabilidade,tenham
desaparecido”, considera o sociólogo Robert Castel, “eles não são mais legíveis para o indivíduo todo voltado para si”. O turvamento do princípio da exterioridade do social acabou dando lugar às interpretações psicologizantes do social (Apud, PECHMAN, 2008, p.204). Eis aí o fundamento do homem perverso, na cidade perversa.
Ousaria dizer que, de alguma forma, as manifestações tomaram as cidades para deter essa perversão. Talvez seja o que estava querendo dizer aquele cartaz, que balançando ao vento, gritava: “Mãe, não me espere pra’ jantar, estarei ocupado mudando o Brasil”.
BIBLIOGRAFIA
Acesso em 10/7/2013: publicitariopobre.com/.../vemprarua-oscartazesmais-... Oficinadohumor.com/cartazes-criativos-durant...
WWW.youtubr.com/watch?v=MvupXohSA_A
AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua I, BH, UFMG, 2007, Segunda reimpressão.
ANDRADE, Marta Mega, A cidade das mulheres. Cidadania e alteridade feminina na Atenas clássica, RJ,LHIA, 2001.
DUFOUR, Dany- Robert. La cité perverse. Liberalisme et pornographie, Paris, Denoel, 2009.
LEBRUN, Jean Pierre, A perversão comum. Viver juntos sem outro, RJ, Campo Matêmico, 2008.
MARTINS, José de Souza, “O decoro nos ritos de interação na área metropolitana de São Paulo”, In, MARTINS, José de Souza, Org.), Vergonha e decoro. A vida cotidiana na metrópole, SP, Hucitec, 1999.
O Globo, 26/06/2013, Caderno: País, p.8.
PECHMAN, Robert Moses, “Quando Hannah Arendt vai à cidade e encontra com Rubem Fonseca; ou da cidade, da violência e da política”, In, NASCIMENTO, Durval do e BITENCOURT, João (orgs.), Dimensões do urbano. Múltiplas facetas da cidade, Chapecó (SC) Argos, 2008.
SAFATLE, Vladimir, Cinismo e falência da crítica, SP, Boitempo, 2008.