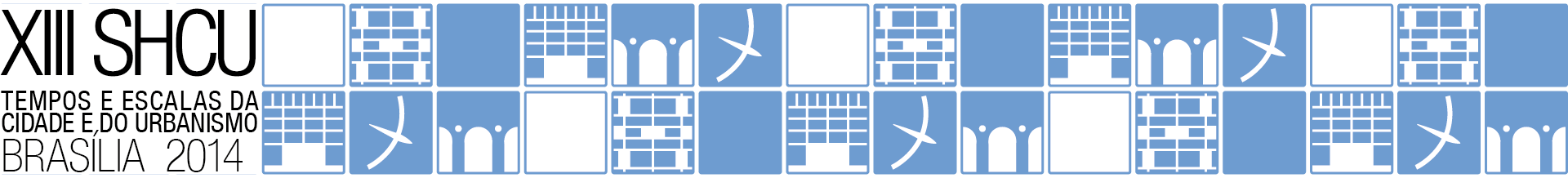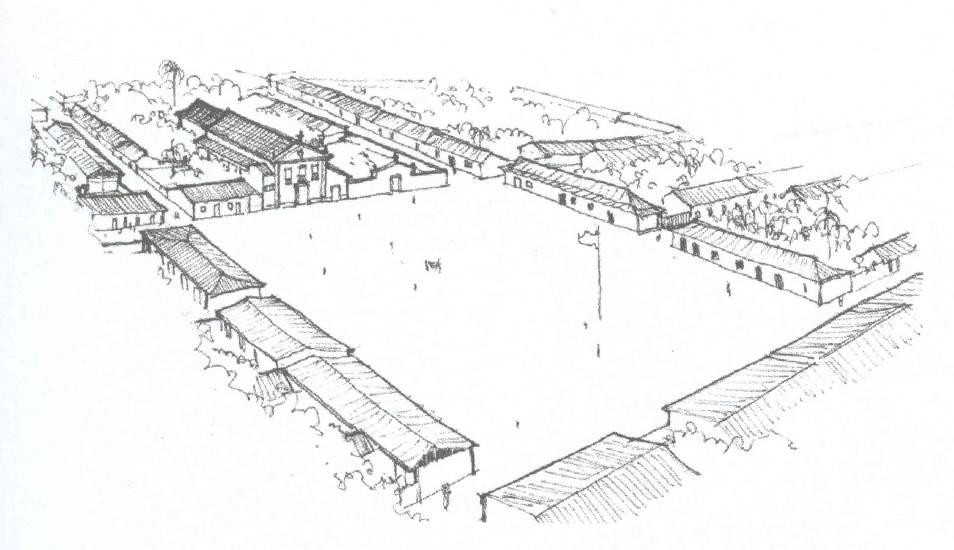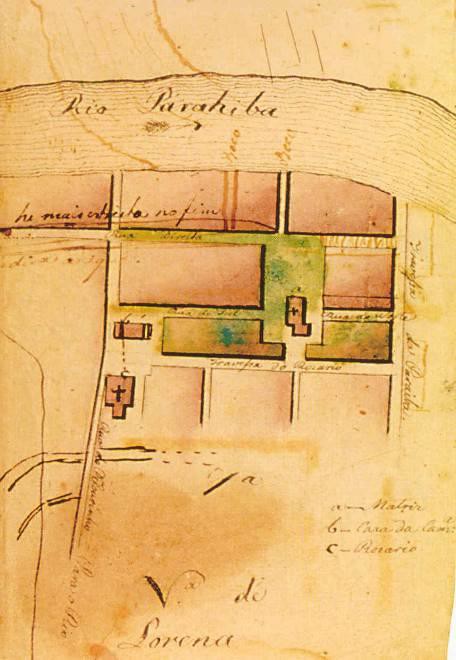O plano sem traçado: a Igreja na lógica urbanística portuguesa de criação das vilas coloniais
Resumo
Este artigo trata da relação entre a Igreja Católica e o Estado Português no processo de colonização das terras de sua colônia em continente americano e como essa relação se desdobrava em fatores de estabelecimento e organização das vilas criadas em território hoje brasileiro. Observa como a Igreja era utilizada como um instrumento estatal de doutrinamento e obediência à coroa portuguesa e um braço governamental responsável, entre outras coisas, por organizar os planos iniciais das vilas criadas sob seus domínios. Observa também diferenças entre as formas como os governos português e espanhol concebiam suas novas cidades, percebendo uma forma de implementação mais sutil e adaptável aos sítios por parte dos portugueses, com menor preocupação com traçados, estes, mais subordinados aos terrenos e a pontos focais: os adros e as praças públicas.
Palavras-chave: história urbana, Igreja, Brasil, Portugal, urbanismo.
Abstract
This paper deals with the relationship between the Catholic Church and the Portuguese State in the colonization of the lands of their colony in the Americas and how this process reflected in the establishment and organization factories of villages created in Brazilian territory. It observes how the Church was used as an instrument of state doctrination and obedience to the Portuguese Kingdom and a government arm responsible, among other things, for organizing the initial plans of towns created. Also notes differences between the ways in which Portuguese and Spanish governments conceived their new cities, observing a form more subtle and adaptable to the natural sites by the Portuguese, with less concern with plan implementation, these more subordinated to the topography and principal points: the churchyards and public squares.
Keywords: urban history, Catholic Church, Brazil, Portugal, urbanism.
A colonização como expansão da fé católica
Na colonização das terras brasileiras, a união entre Igreja e Estado já estava estabelecida e veio acrescentar novos motivos para a empreitada à ideia que já vigorava na época, quando Portugal ainda vivia uma sensação de expansão. Após décadas de lutas para expulsar os mouros das terras lusas, verdadeiras cruzadas, iniciaram-se as grandes navegações e foram sendo estabelecidos postos avançados ao longo das costas africana e asiática. Portugal não cabia mais dentro de si mesmo, como que se lançasse em tentáculos para as várias partes do globo onde colonizava. Sob as bandeiras do governo, sempre estava presente a representação eclesiástica, que era peça importante no estabelecimento da cultura lusa nas novas possessões (destaque-se aqui que até os dias atuais o brasão da bandeira portuguesa ostenta o astrolábio repousando sobe a cruz da Ordem de Cristo, a mesma que vinha estampada nas velas das embarcações lusitanas).
Os portugueses acompanhavam a mentalidade de seus reis, pois pertenciam a uma
Igreja já bem estabelecida e mantinham um mesmo sentimento comum que marcou os católicos de seu tempo, especialmente na Península Ibérica: um sentimento guerreiro contra os inimigos da fé, fossem eles mouros muçulmanos ou povos de outra denominação qualquer que não a católica, ideia essa popularizada em tempos mais antigos, desde que o papa Urbano II convocou os povos europeus para a Guerra Santa (1096-1272) contra os turcos infiéis que dominavam Jerusalém (HOORNAERT, 1974, p.32-3). Essa noção de expandir a nação nos novos continentes como uma espécie de cruzada levaria ainda muito tempo para abandonar as mentes dos países das grandes navegações.
Para Portugal, as colônias eram, claro, áreas para serem exploradas, mas a intenção não era a de se constituir uma nova sociedade em uma nova terra, num novo ambiente e num novo tempo, e sim fazer das posses uma continuação da sociedade portuguesa, uma expansão sua com a manutenção dos costumes e preceitos da terra-mãe.
Dessa maneira, os colonizadores portugueses aqui aportaram trazendo consigo toda uma bagagem cultural, o que incluía seus saberes de navegação, sua capacidade intrínseca de adaptação a novos meios e localidades, conhecimentos de técnicas construtivas simples e cambiáveis, o trato menos agressivo para com os gentios se comparados a seus vizinhos espanhóis, entre outras características. A cultura e, consequentemente, a forma de colonização lusitana, serão muito mais sutis que as espanholas: os portugueses guerreavam menos com os nativos americanos, colocavam suas crenças de maneira menos impositiva, e implantavam cidades adaptando-as ao sítio urbano, ao seu relevo, organizadas como postos avançados que poderiam ser facilmente abandonados em casos de sucessivos ataques. Todo o aparato de colonização português era mais simples e discreto que o espanhol.
Uma característica bastante arraigada à tradição portuguesa e transplantada também para as terras americanas foi a relação bastante próxima da população com a já bem estável fé católica, com todos os seus dogmas e paradigmas de além-mar.
Na era colonial, (...) não era um cristianismo em formação que se lançava sobre a nova área, mas um certo Catolicismo, com seus dogmas e teologias já estruturados, centralizado em torno do magistério pontifício e, mais do que nunca, associado a um projeto estatal (KARNAL, 1998, p. 19).
E a Igreja fazia parte desse projeto de colonização do território. Era a marca de ocupação da nova cultura sobre as demais, subjugadas, e o braço religioso e até administrativo do Estado. Igreja e Estado estavam juntos e se complementavam, eram como uma extensão, parte um do outro.
A Igreja como apaziguadora dos súditos
O povo, se bem instruído nos preceitos da fé, seria melhor vassalo do reino e garantiria a paz e a boa governabilidade nas colônias. Essa noção de manutenção da Igreja para garantir a vassalagem dos súditos em terras da colônia era reafirmada recorrentemente, visando controlar os ânimos da população, lembrando que era grande, no Brasil, o contingente de criminosos e degredados, que deveriam ser mantidos sob controle. A população local, de notada maioria masculina, deveria ser incessantemente vigiada e controlada. O que seria melhor que a própria consciência dos habitantes de aquém-mar para mantê-los sob controle? Cabia à Igreja incutir no
homem a noção e a necessidade do ser pacífico e subalterno ao poder da distante realeza metropolitana.
Tal noção é ratificada anos depois, em 1800, em carta régia dirigida pela corte portuguesa ao capitão-mor da Bahia, Francisco da Cunha Menezes, onde se lhe recomenda que cuide da dignidade dos prelados e que exija dos mesmos submissão aos direitos reais, colocando a Igreja no papel de instrumento de pacificação política:
A religião dada por Deus ao homem para sua consolação é, sem dúvida o melhor e mais seguro meio de conservar a tranqüilidade a subordinação necessária entre os povos, e assim, por este motivo, como razão da qualidade que me é inerente de defensor e protetor da Igreja, vos recomendo não só que façais respeitar a mesma religião, mas também que mostrando a maior deferência para os prelados da Igreja, os auxilie com aquelas providências que eles justamente solicitarem de vossa parte e que forem indispensáveis para conservar o respeito devido à mesma Igreja e aos seus ministros, e para zelar sem violência a permanência e conservação dos bons costumes, do que não depende menos do que hábeis leis, a prosperidade e felicidade dos Estados. Portanto confio que com a vossa pessoal conduta não só dareis a tão louváveis princípios o mais sólido fundamento, mas também vos proporeis a zelar a minha soberana autoridade, não consentindo que debaixo de aparentes pretextos do bom serviço de Deus e da Igreja, se violem os meus reais direitos, de que por uma parte vem resultar graves inconvenientes ao meu real serviço, e pela outra se suscitam graves perturbações e escândalos nocivos ao mesmo serviço de Deus e da Igreja (HOORNAERT et. al., 1979, p.181).
Assim como à Igreja cabia, entre outras coisas, auxiliar o Estado no doutrinamento dos súditos, o mesmo estava comprometido e empenhado em não apenas colonizar, mas também a evangelizar os povos “pagãos” que habitavam essas terras de aquém- mar. E evangelizar significou, em nosso caso, a imposição aos gentios da cultura portuguesa, fortemente calcada nos preceitos do catolicismo. Pelo patronato régio, cabia ao governo civil o envio e o devido sustento dos missionários dedicados à conversão a Deus dos incréus que se encontravam nas colônias (ALTOÉ, 1993, p.20). Na cultura do país, a Igreja e o Estado eram instâncias da vida e do cotidiano marcantes em Portugal que não podiam ser completamente separados. Tanto na metrópole como na colônia sul-americana não se tinha uma idéia da Igreja Lusa como uma igreja tridentina, no sentido de uma instituição estanque, forte, cerrada em si, mas o que se via e se entendia no período de colonização do Brasil era uma sociedade mais ampla, na qual Estado e Igreja se identificavam e compartiam funções políticas, administrativas e sociais.
A fundação das cidades
A Igreja era também a instituição que aqui havia mais próxima aos atuais cartórios, e os padres, por vezes, se aproximavam de escriturários, pois realizavam todos os registros dos cidadãos, seus fiéis.
Os clérigos eram funcionários encarregados de ministrar os sacramentos e todos conhecem o espanto do piedoso Saint- Hilaire ao ouvir do padre mineiro a resposta a seu agradecimento pelas atenções que tivera pelo “camarada” naturalista morto em viajem: “sou pago para isto”. Era pago para ministrar os sacramentos; juizes pagos para ministrar a justiça; os soldados pagos, para guerrear. Empregos diversos no serviço 'de Deus e del-rei’ que sempre estavam juntos (TORRES, 1968, p.38).
A igreja se tornou, dessa forma, um braço do Estado no território brasileiro, indo, quase sempre, além das funções estritamente religiosas. Era a responsável por hospitais, asilos, orfanatos e cemitérios. E, com os registros de batismo, matrimônio e óbito, a instituição comandava a vida pública dos cidadãos. O homem vinha ao mundo pela Igreja, formava família com seu aval e era sepultado em suas terras.
Ocorria comumente que, como Estado e Igreja tinham atribuições que se confundiam e, num momento que o primeiro era estruturado de forma bastante precária na colônia, o governo, na maioria das vezes, tinha, por parte da população, uma reputação menor que a Igreja: enquanto as instituições eclesiásticas faziam valer seu cunho de agentes da religião oficial e se instalavam segundo suas normas bem formuladas e fiscalizadas, outro era o quadro para as entidades cívicas, ainda que do maior prestígio. (MARX, 2003, p.41). A presença da Igreja ou a falta dela, por meio de um templo, era também uma forma de o Estado estabelecer um padrão para dividir e organizar territorialmente as povoações, pois a partir do templo se formavam juridicamente as cidades. Uma divisão paroquial demarcava, da mesma maneira, os limites dos juizados de paz. Era necessário que, onde houvesse uma aglomeração humana aspirante a vila, que o proprietário local (geralmente um sesmeiro que tolerava a ocupação de uma pequena nesga de suas terras por essas pessoas) doasse parte de suas posses para a formação do patrimônio religioso. O nome dizia literalmente o que era: uma gleba que deveria ser doada ao santo padroeiro e passaria a ser patrimônio da Igreja.
Este curioso processo de fundação de cidades [de doação de patrimônio] era empregado desde muito tempo no Brasil, onde já se vê funcionar no século XVI. O primeiro exemplo é talvez o de Santos, fundado por Brás Cubas em 1545 em torno de uma capela e de um hospital de Todos os Santos. A doação do patrimônio foi feita ao hospital, encarregado de organizar e de lotear as datas em torno da capela; o sucesso do loteamento permitiu ao próprio Brás Cubas, lotear a parte vizinha, de sua propriedade pessoal. A fundação de Jundiaí, no norte de São Paulo, em 1615, por Rafael de Oliveira, se fez do mesmo modo: ele construiu uma capela e deu-lhe um vasto patrimônio. Sorocaba, no oeste de São Paulo, teve a mesma origem; assim também Montes Claros, Botucatu, São Manoel, fundadas no século XIX. Foi sem dúvida esse processo do patrimônio que deu ao Brasil a maioria de suas cidades (DEFFONTAINES, 1944, p.20).
Esses patrimônios eram loteados e os lotes arrendados ou aforados1 para renda da instituição eclesiástica, que com elas manteria o culto e o templo, ao redor do qual se estabeleceriam definitivamente as habitações que conformavam a localidade. Essa doação trazia benefícios para o sesmeiro/fazendeiro:
Doar as terras para uma ermida ou capela muitas vezes afastava do fazendeiro possíveis problemas com a Igreja. (...) Junto ao processo constava uma declaração de fé. Aceita a doação do patrimônio religioso, a escritura podia ser feita em nome do próprio santo, como é o caso de Campos de Cunha, onde, até hoje, é ele o dono das terras. Outra forma foi a doação pela qual a Igreja e o pároco, ou cura, poderiam usufruir os lucros da terra e de suas novidades. Não podendo ser fundadas em lugares ermos e despovoados, as capelas, além do sentido de posse da terra, tinham também a função de consolidar a povoação formada perto das fazendas (TIRAPELLI, 2005, p.18).
O governo local somente reconhecia a existência de uma povoação a partir do momento em que a capela presente fosse elevada à categoria de freguesia (paróquia). Esse processo para a constituição de uma nova povoação não se alterou até os fins do período imperial no Brasil. Com isso, até o final do século XIX, a capela era o ponto que embrionava a povoação, o primeiro símbolo de oficialidade de uma localidade que se estabelecia. Em muitos casos, também a primeira edificação do local, a edificação que atraía as pessoas para se fixarem em suas cercanias, atraindo moradores que formariam uma nova comunidade ao seu redor (VALE, 1998, p.20).
Por isso, a construção da capela era uma das primeiras atitudes tomadas após a doação das terras para o patrimônio religioso. Se houvesse escassez de rendas na localidade, erigia-se uma provisória até que fosse possível construir-se a igreja definitiva.
O traçado era determinado pela topografia, e a construção da capela, ou igreja, era imediata. Se era concluída ou não, pouco importava, pois o símbolo da posse era obrigatório. A inconsistência das construções foi uma característica. Não tinham o significado de local de permanência. A igreja, porém, era o local onde se cumpriam as atividades obrigatórias da religião, sob pena de multa (TIRAPELLI, 2005, p.20).
A Igreja era um marco e, via de regra, ocupava o centro da área doada como patrimônio, ou melhor, o ponto central do largo fronteiriço era o exato centro geométrico da gleba recebida, geralmente, quadrangular: a norma lusa estipulava uma figura em quadra – como de resto era usual na definição de superfícies, seja de sesmarias, de quintas, de terrenos urbanos – ficando pressuposta a do quadrado (MARX, 1991, p.73). Somente muito tempo depois, em fins do século XIX e começos do XX, a rígida forma dos patrimônios religiosos vai se alterar, sendo mais comuns as
1 Aforamento: espécie de cessão de terras em que o foreiro pagava uma quantia ao proprietário do local, no caso de nossa pesquisa, à Igreja, para ocupar um lote. Tal lote não se tornava sua propriedade, continuava sendo terra eclesiástica e, caso o foreiro não cumprisse suas obrigações ou a igreja necessitasse do terreno, poderia requisitá-lo de volta. O foreiro deveria, além de tudo, pagar o dízimo em benefício da Ordem de Cristo, que tinha o direito outorgado pela Santa Sé e garantido pelo Rei de Portugal, sobre as terras das colônias.
doações retangulares ou em forquilha, entre dois cursos d`água (GHIRARDELLO, 2002).
Ainda assim, como o sistema de doação de terras vigente no Brasil era o de sesmarias, medidas em léguas (6,6 km), e os proprietários utilizavam menos que a décima parte de suas propriedades, o quadro do patrimônio podia variar mais para cá ou mais para lá, sem que isso causasse problemas. O que ocorria de fato é que, escolhida a localização do templo, consideravam-se os limites do patrimônio religioso contando- se a partir do adro frontal e obedecendo à orientação da construção, seja ela qual fosse, pois quase nunca estavam alinhados com qualquer ponto cardeal.
O plano urbanístico
Construída a capelinha, em torno dela as ruas eram delineadas e o vilarejo ia se conformando. A forma do traçado e a implantação no sítio urbano, portanto, dependiam totalmente da localização escolhida para o marco zero, ou seja, do local onde se edificaria a igreja. A legislação católica era bastante clara quanto aos locais para ereção das capelas:
Conforme o direyto Canônico, as Igrejas se devē fundar, & edificar em lugares decentes, & accomodados, pelo que mandamos, que havendo-se de edificar de novo alguma Igreja Parochial em nosso Arcebispado, se edifique em sitio alto, & lugar decente, livre de umidade, & desviado, quando for possível, de lugares immûdos, & sórdidos, & de casas particulares, & de outras parades, em distancia que possaõ andar as Procissões ao redor dellas, & que se faça em tal proporção, que não sómēte seja capaz dos freguezes todos, mas ainda de mais gente de fora, quando cõcorrer às festas, & se edifique em lugar povoado, onde estiver o maior numero dos freguezes (IGREJA CATÓLICA, 1720, p.265, livro IV, tít. XVII, cân 687).
Às normas eclesiásticas se somava a tradição urbanística portuguesa, que não tinha leis formais, mas um código, um padrão já introjetado na cultura dos povoadores lusos. As ordenações portuguesas, os seus primeiros códigos legais, eram despossuídas de orientações de ordem urbanística, de traçado, de conformação das cidades. Tanto as Ordenações Afonsinas (1446), como as Manuelinas (1521) e as Filipinas (1603) não tratavam desse assunto, salvo algumas normas de boa vizinhança, mas nada sobre o plano urbano. Havia, porém, um saber fazer, uma técnica portuguesa de se construir cidades e uma estratégia militaresca para ordenar as implantações.
No caso brasileiro, era difícil adotar a quadrícula, pois o Estado português, diferentemente do espanhol, não escolhia o ponto para se fixar uma nova povoação e por isso não podia indicar uma situação de relevo mais propícia a um “bom” desenho urbano. O arruamento da maior parte das cidades paulistas era, até antes do governo do Morgado de Mateus, um conjunto de linhas que buscava uma ortogonalidade, mas com as variações que a topografia do sítio forçava, escapando-lhes a perfeição da régua, do plano abstrato. Ao contrário dos traçados perfeitamente regulares e quadráticos implantados nas extensas llanuras da América Espanhola, a maioria das vilas do Brasil colonial crescia com um desenho de outra ordem que não a quadrícula.
Assim, as diretrizes urbanísticas que começam a ser exigidas durante o período pombalino precisavam ser adaptadas ao relevo onde essas cidades se localizavam, muitas vezes bastante acidentado para receber uma malha de ruas ortogonal. Disso resultavam, muitas vezes, implantações problemáticas das vias urbanas.
Assim, as cidades portuguesas em terras das colônias não seguiam uma regularidade formal tão rígida como os casos dos vizinhos espanhóis, mas eram marcadas por um respeito maior ao sítio onde se implantava a povoação. Eram os lusos mais maleáveis que os hispânicos e, da constatação dessa característica adveio a impressão que as vilas portuguesas não possuíam um ordenamento:
A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta confunde-se com a linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, sempre esse abandono característico que exprime bem a palavra “desleixo” – a palavra o escritor Albert Bell considerou tão tipicamente portuguesa como “saudade” e que, na sua opinião, não exprime tanto falta de energia, como a convicção de que “não vale a pena” (HOLLANDA, 1998, p.110).
A aparente desordem da cidade brasileira, comparando-se com as retículas costumeiramente implantadas em posses da coroa espanhola nas Américas, induz a entender uma inexistência de traçado prévio, mas existia uma coerência com uma unidade de espírito do modus vivendi português, uma genuinidade típica daquele povo.
Genuinidade como expressão espontânea e sincera de todo um sistema de vida, e que tantas vezes falta à cidade regular, traçada em rígido tabuleiro de xadrez. Esta, dado o processus mesmo de sua criação, há de ser, necessariamente, produto de uma ideia preconcebida com que o projetista pretende, não raro artificiosamente, ordenar, disciplinar, modelar a vida que nela vai ter lugar (SANTOS, 2001, p.18).
As cidades no Brasil se caracterizavam, sim, por quarteirões retangulares, mais longilíneos que as quadras quadradas das colônias da Espanha, e pela hierarquização das vias em ruas (mais largas) e travessas (mais estreitas, perpendiculares às primeiras), demonstrando uma orientação para um sentido principal de organização dos fluxos urbanos. Os tecidos urbanos feitos pelos portugueses também se adaptavam com menor pudor à topografia, visto termos raros casos de sítios planos em todo o território inicialmente povoado. As cidades implantadas em planícies, geralmente costeiras, se impuseram sobre áreas de manguezais, tendo que ser ampliadas aos poucos, por aterros, conforme o terreno permitia, dificultando o seguimento de um traçado rígido, ainda assim, cidades como Rio de Janeiro, Filipéia (João Pessoa) e Recife já esboçavam uma regularidade maior, com vias mais contínuas e quadras próximas à forma do retângulo.
Figura 1. Rio de Janeiro em 1808, com seu traçado tendendo à regularidade. Note as quadras retangulares e a maior parte das ruas que se constituem de apenas um segmento, sem quebras ou dobras. Fonte: Reis (1812).
Já as vilas dos planaltos, essas tiveram que se ajustar a irregularidades do sítio ainda maiores, forçando a uma adaptação da malha. Vale lembrar que nem mesmo os espanhóis conseguiam manter a perfeição da quadrícula em sítios acidentados: Quito (Equador) apresenta considerável desalinhamento de suas ruas, Cuzco (Peru) possui uma planta que claramente foge da ortogonalidade (HARDOY, 1964: lâm. 60), ao passo que Havana (Cuba) se estrutura em forma de leque, uma implantação muito mais semelhante ao que seria natural a uma cidade lusitana.
No caso português, a implantação seguia a partir da praça inicial, com desenvolvimento menos rígido nas partes posteriores a ela. Era importante que o ponto inicial fosse bem traçado, pois a partir dele se desenvolveria a vila. Diferentemente do caso espanhol, não se fazia em qualquer localidade uma plaza mayor, reunindo os poderes civil e religioso, igreja e palácio do governo. Essa forma era comum apenas nas capitais e principais cidades2 da colônia, como Salvador, Rio
de Janeiro, Olinda e Vila Rica (Ouro Preto).
Nas vilas que demoravam a ter o status de cidade, era muito mais comum haver
2 O termo cidade, no período colonial, era uma espécie de título dado às vilas. Uma vila que atingisse os foros de cidade era mais importante politicamente e estrategicamente para o governo central e poderia, somente a partir da sua elevação a cidade, passar a se sede de uma comarca ou de uma diocese, dentre outros serviços e distinções próprios de seu novo status.
inicialmente uma praça eclesiástica apenas, relegando-se área menor para uma casa de Câmara e Cadeia. Essa praça era, comumente, muito bem delineada e retangular, se assim o terreno permitisse, o que indica que havia uma intenção de ortogonalidade quando se gestava uma nova povoação. A partir dela o núcleo se expandiria, buscando-se manter as ruas iniciais seguindo os alinhamentos da mesma. São casos como esses os de cidades construídas até o setecentos em São Paulo, como Jundiaí, Mogi-Mirim, Lorena e Sorocaba. Ainda no século XVII há exemplos de vilas com traçados claramente geometrizados e vias quase ortogonais: são os casos de Caraguatatuba, Itu e Taubaté (MARX, 1991, p.97). Não foram raros, também, casos de cidades que possuíram um plano inicial: muitas, mesmo das mais modestas, tiveram planta prévia, feita aqui mesmo e enviada para aprovação na metrópole (SANTOS, 2001, p.49).
Figura 2. Reconstituição do núcleo central de Mogi-Mirim, com sua praça retangular. Desenho: Francisco Veríssimo. Fonte: Mendes (2007).
Figura 3. Lorena em 1821, com traçado ortogonal. Desenho: Arnaud Julien Pallière. Fonte: Tirapelli (2005).
Essa forma de urbanização sem normas escritas, mas com um padrão a ser seguido mudaria com o pensamento iluminista do período pombalino, quando orientações de ortogonalidade e traço das ruas eram feitas de forma explícita pelos governadores nomeados para as capitanias brasileiras. No entanto, isso já escapa a este artigo.
Conclusão
Percebe-se que, mesmo não havendo leis urbanísticas e um grande número de planos traçados na prancheta para as vilas que se criavam na colônia brasileira pré- pombalina, havia uma ordem, uma lógica de implantação portuguesa, em que as povoações se desenvolviam a partir da praça eclesiástica, seguindo alinhamentos e formas já arraigadas à tradição do saber-fazer da metrópole, obedecendo às características do sítio muito mais do que as cidades espanholas. À forma de organização urbana hispânica, a portuguesa também se diferenciava no estabelecimento de diferentes graus de valor que davam às partes da cidade: os largos e adros tinham importância crucial no direcionamento das vias: eram nós, entroncamentos dos fluxos urbanos. Ao contrário, nas cidades quadriculadas da América Hispânica a própria retícula e a uniformidade da anchura das ruas (com raras exceções em que se criavam vias mais largas) atenuavam a maior importância das praças e não as diferenciavam de valor, como faziam os portugueses, com suas ruas e travessas.
Os portugueses tinham uma forma diferente de seus vizinhos espanhóis de pensar a ocupação do território, a sua postura ante os sítios urbanos, muito menos cartográfica, mas pensada numa dinâmica mais militaresca de defesa, com cidades compactas e quase sempre em posição de promontório ou protegidas ladeadas por montanhas, utilizava-se do relevo como uma fortaleza natural de forma magistral.
A Igreja Católica era o agente primeiro, que dava ordem e direcionamento aos novos povoamentos, direcionando, a partir dos adros das matrizes, as linhas para onde as cidades cresceriam. Uma forma muito mais natural de se fazer cidade, que a muitos de nós, homens pós-iluminismo, encantados pela ciência, pelo planejamento e pela abstração, pode parecer pior por não se valer de grandes traçados urbanísticos. Era apenas diferente: menos abstrato, mais real.
Referências bibliográficas
ALTOÉ, Valeriano. O Altar e o trono: um mapeamento das ideias políticas e dos conflitos Igreja/Estado no Brasil (1840-1889). Tese (Doutorado), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1993.
GHIRARDELLO, Nilson. À beira da linha: formações urbanas da Noroeste paulista. São Paulo: Edunesp, 2002.
HARDOY, Jorge Enrique. Ciudades precolombinas. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1964.
HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
HOORNAERT, Eduardo. Formação do catolicismo brasileiro: 1550-1800 – Ensaio de interpretação a partir dos oprimidos. Petrópolis: Vozes, 1974.
et al. História da Igreja no Brasil – ensaio de interpretação a partir do povo. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1979.
IGREJA CATÓLICA. Arcebispado da Bahia. Constituicoens primeyras do arcebispado da Bahia. Coimbra: Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1720.
KARNAL, Leandro. Teatro da fé: representação religiosa no Brasil e no México do século XVI. São Paulo: Hucitec, 1998.
MARX, Murillo. Cidade no Brasil: terra de quem? São Paulo: Nobel,
- MARX, Murillo. Nosso chão, do sagrado ao profano. São Paulo, Edusp, 1991.
MENDES, Francisco Roberval. Arquitetura no Brasil: de Cabral a D. João VI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007.
SANTOS, Paulo Ferreira dos. Formação de cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001.
TIRAPELLI, Percival. (org) Arte sacra colonial: Barroco Memória Viva. 2 ed. São Paulo: FAPESP, Imprensa Oficial, Edunesp, 2005.
TORRES, João Camilo de Oliveira. História das ideias religiosas no Brasil: A Igreja e a Sociedade Brasileira. São Paulo: Editorial Grijalbo, 1968.
VALE, Marília Maria. Arquitetura religiosa do século XIX no antigo sertão da farinha podre. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998.